No último fim-de-semana fui a um bar tão "retro", tão "retro" que os empregados de mesa faziam questão em encher o meu cinzeiro de beatas
10/24/2003
10/12/2003
A DIFÍCIL ARTE DE SER PAI (OU MÃE, QUE NESTES TEMPOS DE FAMÍLIAS MONOPARENTAIS TEMOS QUE SER POLITICAMENTE CORRECTOS)
Confesso que já andava preocupado, com a minha auto-estima abalada porque, apesar de quinzenalmente assinar estas "crónicas", não tive, até agora qualquer correspondência por parte dos leitores, se exceptuarmos aquele canídeo que me escreveu numa das primeiras edições.
Ora esse facto, para um narcisista assumido como eu sou, é uma espécie de enxaqueca permanente, uma moínha que se vai adensando.
Felizmente as minhas preces foram ouvidas e um leitor preocupado escreveu-me, pelo que passo a transcrever as suas linhas:
Caro Sr. Nuno Augusto,
Sou pai de um rapaz que no próximo mês de Novembro vai fazer 16 anos e no último fim-de-semana fiquei surpreendido quando ele me pediu para termos uma conversa. Comecei por pensar que a "conversa" iria ser sobre o sexo feminino, mas depressa me apercebi que a coisa era bem mais grave. O rapaz entregou-me uma lista intitulada "As cenas que eu preciso para ir para a escola" e declarou-me que ou eu lhe comprava tudo aquilo ou ele ia "bufar" à mãe (minha esposa) as minhas saídas aos sábados à noite. Devo confessar-lhe que não faço nada de mal aos sábados à noite. Limito-me a ir com a rapaziada do café a um bar ali para os lados de São João da Talha, ver uns shows de strip-tease, mas só vou para não parecer mal, para que a malta não comece com "bocas", pois não aprecio aquele género de mulheres, gosto mais da portuguesa, pequenina e roliça, se bem me entende. Tive vontade de lhe dar uma bofetada, mas contive-me. E pûs-me a olhar para a lista: um telemóvel com sons polifónicos (não digo a marca porque é proibído, não é?), um portátil (explicou-me que era um computador para andar de um lado para o outro) um conjunto de roupas com marcas estrangeiras (perguntei-lhe se era a farda da escola, respondeu-me com um seco "és mesmo um cota básico") e um pricing, um pressing, perdão, um peircing (pela explicação é uma bugiganga de metal que os miúdos cravam ao corpo). Preço total: quase 3.000 euros. E livros, perguntei eu. Isso também pode ser, mas só quero se a mala for (disse uma marca qualquer, estrangeira), respondeu. E avisou-me desde logo que assim que fizesse os 16 queria uma mota, porque já não era nenhum chavalo para ir para a escola de camioneta. Estou banzado, Sr. Nuno. Nunca pensei que dar uma educação aos nossos filhos fosse assim tão caro. Nem que para aprender português fosse preciso uma mota. Estou definitivamente a ficar velho e ultrapassado. E com isto tudo lá se vai o dinheiro que andei a poupar para ir com a minha Joaquina a Benidorm. E não me chega. Pergunto-lhe, Sr. Nuno, o rapaz ainda agora vai no 8º ano, pois já chumbou algumas vezes, o que me vai pedir quando chegar ao 12º? Um helicóptero por causa do trânsito?
António José Silva
Pai
Pois bem, Sr. Silva, devo esclarecer-lhe uma coisa: não tenho filhos e por isso, embora solidário consigo, ainda não vivi essa experiência. Faço é votos para que o seu rapaz acabe o secundário e entre no ensino superior, tire um curso, mesmo que seja uma engenharia de que ninguém ouviu falar e consiga arranjar um emprego. E tenho a certeza que se lhe comprar todos os itens da lista ele estará preparado para o mercado de trabalho. Ou melhor, como dizem agora, para um nicho do mercado. Algures entre uma loja de roupa num centro comercial e uma oficina de motas. Que é um nicho tão bom como qualquer outro, claro.
Ora esse facto, para um narcisista assumido como eu sou, é uma espécie de enxaqueca permanente, uma moínha que se vai adensando.
Felizmente as minhas preces foram ouvidas e um leitor preocupado escreveu-me, pelo que passo a transcrever as suas linhas:
Caro Sr. Nuno Augusto,
Sou pai de um rapaz que no próximo mês de Novembro vai fazer 16 anos e no último fim-de-semana fiquei surpreendido quando ele me pediu para termos uma conversa. Comecei por pensar que a "conversa" iria ser sobre o sexo feminino, mas depressa me apercebi que a coisa era bem mais grave. O rapaz entregou-me uma lista intitulada "As cenas que eu preciso para ir para a escola" e declarou-me que ou eu lhe comprava tudo aquilo ou ele ia "bufar" à mãe (minha esposa) as minhas saídas aos sábados à noite. Devo confessar-lhe que não faço nada de mal aos sábados à noite. Limito-me a ir com a rapaziada do café a um bar ali para os lados de São João da Talha, ver uns shows de strip-tease, mas só vou para não parecer mal, para que a malta não comece com "bocas", pois não aprecio aquele género de mulheres, gosto mais da portuguesa, pequenina e roliça, se bem me entende. Tive vontade de lhe dar uma bofetada, mas contive-me. E pûs-me a olhar para a lista: um telemóvel com sons polifónicos (não digo a marca porque é proibído, não é?), um portátil (explicou-me que era um computador para andar de um lado para o outro) um conjunto de roupas com marcas estrangeiras (perguntei-lhe se era a farda da escola, respondeu-me com um seco "és mesmo um cota básico") e um pricing, um pressing, perdão, um peircing (pela explicação é uma bugiganga de metal que os miúdos cravam ao corpo). Preço total: quase 3.000 euros. E livros, perguntei eu. Isso também pode ser, mas só quero se a mala for (disse uma marca qualquer, estrangeira), respondeu. E avisou-me desde logo que assim que fizesse os 16 queria uma mota, porque já não era nenhum chavalo para ir para a escola de camioneta. Estou banzado, Sr. Nuno. Nunca pensei que dar uma educação aos nossos filhos fosse assim tão caro. Nem que para aprender português fosse preciso uma mota. Estou definitivamente a ficar velho e ultrapassado. E com isto tudo lá se vai o dinheiro que andei a poupar para ir com a minha Joaquina a Benidorm. E não me chega. Pergunto-lhe, Sr. Nuno, o rapaz ainda agora vai no 8º ano, pois já chumbou algumas vezes, o que me vai pedir quando chegar ao 12º? Um helicóptero por causa do trânsito?
António José Silva
Pai
Pois bem, Sr. Silva, devo esclarecer-lhe uma coisa: não tenho filhos e por isso, embora solidário consigo, ainda não vivi essa experiência. Faço é votos para que o seu rapaz acabe o secundário e entre no ensino superior, tire um curso, mesmo que seja uma engenharia de que ninguém ouviu falar e consiga arranjar um emprego. E tenho a certeza que se lhe comprar todos os itens da lista ele estará preparado para o mercado de trabalho. Ou melhor, como dizem agora, para um nicho do mercado. Algures entre uma loja de roupa num centro comercial e uma oficina de motas. Que é um nicho tão bom como qualquer outro, claro.
9/21/2003
O VERDADEIRO ARTISTA
O Dr. Pedro Santana Lopes é, de longe, o melhor demagogo da política portuguesa. Não o digo com o fito de magoar ou de ofender, até porque, convenhamos, não tenho esse poder. Nem o digo necessariamente num tom depreciativo. A sua grande arma consiste em acreditar, ou aparentar que acredita no que diz, com convicção e é absolutamente irrelevante se amanhã disser outra coisa completamente oposta, porque tem a inteligência e a capacidade retórica suficientes para parecer coerente. Santana Lopes consegue transmitir uma imagem genuína também porque representa uma certa classe média arrivista, de tradição secular em Portugal, do neto do vendedor de bacalhau que conseguiu subir na vida, "tem pinta", para usar uma expressão popular. De alguém que não tendo a espessura das élites consegue conviver com elas e provocar-lhes inveja, como também não tem problemas em descer à rua. E como homem esperto que demonstra ser, vai aprendendo. Sendo razoavelmente culto, está longe da erudição e mantém por isso uma prudente distância das cliques, por onde serpenteia e destila charme, como também não tem problema em concordar com as ideias mais básicas do amigo do Primeiro-Ministro, o já mítico Zé, conseguido sempre transformá-las em algo que seriamente se pode defender. Cultiva a sua imagem, é o genro que todas as mães gostavam de ter. E é por tudo isto que me surpreende que certa Esquerda vire baterias para o Dr. Paulo Portas, como o grande demagogo da Direita portuguesa. Comparado com Pedro Santana Lopes, Paulo Portas é uma marioneta caricatural, uma espécie de seguro de vida para a Esquerda portuguesa, porque enquanto existir, muito gente que se integra nesse animal da fábula política portuguesa que se chama Eleitorado do Centro, vai "virar" à esquerda.
É que Paulo Portas, sendo um demagogo dotado, provavelmente mais dotado que Santana Lopes, nunca vai ser popular, pela sua própria natureza. Nunca vai perder aquele ar de beto da Avenida de Roma, por mais feiras e fainas que percorra. Pode até descer às minas, que irá sempre parecer uma marquesa incomodada com o cheiro a suor do povo. Santana Lopes é o retrato do país que somos, brota dele. Portas sonha, como muito bem explicou o seu amigo Miguel Esteves Cardoso, com um país que não existe nem nunca existirá. Portas era o puto mais inteligente da rua. Pedro Santana Lopes era o puto mais esperto da sua. Tem conseguido esbater a aura de inconsequente que o perseguia. Ganhou a Figueira da Foz sozinho, contra uma arrogância incompatível com a inteligência propalada dos seus adversários. Conseguiu devolver, pelo menos em termos de imagem, a importância àquela cidade. Ganhou Lisboa, que é mais importante que quase todos os Ministérios instalados no Terreiro do Paço. Obrigou o Primeiro-Ministro a ouvi-lo. Paulo Portas tornou-se presidente de um partido que nada mais é que um pequeno clube de sadomasoquismo, que ao longo de mais de duas décadas se foi divertindo a queimar ou a tentar queimar vivas algumas das pessoas mais inteligentes e válidas da Direita portuguesa, como Francisco Lucas Pires, o Prof. Adriano Moreira ou o Prof. Freitas do Amaral. Um partido que, nas próprias palavras do seu líder, poderia ter tido o Rato Mickey como candidato à liderança. Ou o Elmer Fudd, quem sabe. Que hoje é uma fábrica a produzir miúdos, aprumados por fora e completamente ocos por dentro, sem nada para dizer, velhos de 900 anos. Chegou a Ministro de Estado sem ninguém o querer, era apenas o puto que estava mais à mão, quando o PSD precisava de mais meia dúzia de centímetros para chegar ao fruto da árvore do poder e que agora veste uma casaca que manifestamente não lhe serve, que lhe está larga e lhe dá um ar ridículo. Por tudo isto não compreendo como é que a Esquerda se assusta com Portas e não combate Santana Lopes. Santana Lopes é credível, Portas não. Santana Lopes chega ao eleitorado que vagueia entre o PS e o PSD, Portas não. Portas nunca vai chegar a Primeiro-Ministro. A Santana Lopes basta esperar pelo momento certo, que se está a corporizar em cada manifestação de medíocridade do seu próprio partido.
É que Paulo Portas, sendo um demagogo dotado, provavelmente mais dotado que Santana Lopes, nunca vai ser popular, pela sua própria natureza. Nunca vai perder aquele ar de beto da Avenida de Roma, por mais feiras e fainas que percorra. Pode até descer às minas, que irá sempre parecer uma marquesa incomodada com o cheiro a suor do povo. Santana Lopes é o retrato do país que somos, brota dele. Portas sonha, como muito bem explicou o seu amigo Miguel Esteves Cardoso, com um país que não existe nem nunca existirá. Portas era o puto mais inteligente da rua. Pedro Santana Lopes era o puto mais esperto da sua. Tem conseguido esbater a aura de inconsequente que o perseguia. Ganhou a Figueira da Foz sozinho, contra uma arrogância incompatível com a inteligência propalada dos seus adversários. Conseguiu devolver, pelo menos em termos de imagem, a importância àquela cidade. Ganhou Lisboa, que é mais importante que quase todos os Ministérios instalados no Terreiro do Paço. Obrigou o Primeiro-Ministro a ouvi-lo. Paulo Portas tornou-se presidente de um partido que nada mais é que um pequeno clube de sadomasoquismo, que ao longo de mais de duas décadas se foi divertindo a queimar ou a tentar queimar vivas algumas das pessoas mais inteligentes e válidas da Direita portuguesa, como Francisco Lucas Pires, o Prof. Adriano Moreira ou o Prof. Freitas do Amaral. Um partido que, nas próprias palavras do seu líder, poderia ter tido o Rato Mickey como candidato à liderança. Ou o Elmer Fudd, quem sabe. Que hoje é uma fábrica a produzir miúdos, aprumados por fora e completamente ocos por dentro, sem nada para dizer, velhos de 900 anos. Chegou a Ministro de Estado sem ninguém o querer, era apenas o puto que estava mais à mão, quando o PSD precisava de mais meia dúzia de centímetros para chegar ao fruto da árvore do poder e que agora veste uma casaca que manifestamente não lhe serve, que lhe está larga e lhe dá um ar ridículo. Por tudo isto não compreendo como é que a Esquerda se assusta com Portas e não combate Santana Lopes. Santana Lopes é credível, Portas não. Santana Lopes chega ao eleitorado que vagueia entre o PS e o PSD, Portas não. Portas nunca vai chegar a Primeiro-Ministro. A Santana Lopes basta esperar pelo momento certo, que se está a corporizar em cada manifestação de medíocridade do seu próprio partido.
8/21/2003
POR QUE É QUE EU NÃO VOTO EM ANTÓNIO GUTERRES
Enquanto o PSD se entretém com o Prof. Cavaco e o DJ de serviço Santana Lopes, o PS mantém-se silencioso, com a desculpa de que "ainda é cedo". Na verdade ninguém quer fazer a pergunta embaraçosa: vai o PS apoiar o Eng.º António Guterres?
Parafraseando o supracitado Prof. Cavaco: eu não tenho dúvidas. E quando não tenho dúvidas é evidentemente mau sinal. Não tenho dúvidas porque tenho memória e lembro-me perfeitamente do Eng.º António Guterres.
O Eng.º António Guterres chegou ao Poder, por mérito próprio, sem dúvida e teve não o pássaro, mas a gaiola toda na mão. Comprometeu-se com milhões de portugueses e fugiu.
Pela primeira vez no regime democrático o Partido Socialista chegou ao Poder sozinho com um Primeiro-Ministro esclarecido e inteligente. E o trágico da situação é isso mesmo. António Guterres é um homem inteligente e esclarecido, não um tecnocrata com meia dúzia de dogmas mal aprendidos.
Percebeu na perfeição os problemas do País ou como se diz agora, fez o diagnóstico correcto da situação.
Percebeu que o País tinha que investir de forma séria na educação e declarou-se apaixonado. A paixão foi fugaz. Guterres deixou-a entregue a meia dúzia de presunçosos incompetentes que se regeram pelo princípio que enuncia: o menino não sabe ler? Não faz mal. Veja os bonecos que nós vamos contratar os melhores ilustradores do mercado.
E sobretudo alimentou os vícios situacionistas instalados. Passou o tempo a almoçar com "lobbies", inspirado pelo ecumenismo da Terceira Via. Foi incapaz de incomodar os interesses que se degladiam na Saúde, na Construção Civil e Obras Públicas, de tornar justo o contributo que cada português dá, através dos impostos. Com o devido respeito, o Primeiro-Ministro mais parecia um qualquer monarca, desfilando pela avenida, sorrindo à esquerda e piscando o olho à direita, sendo recebido no fim por um conjunto de acólitos que entre palmadinhas nas costas e a outra mão discretamente estendida, elogiavam o seu desempenho. Continuou a engordar a máquina do Estado com despudor e incapaz de alterar comportamentos, só com um custo desproporcionado conseguiu melhorar as condições de vida do País. Porque, sejamos objectivos: nem todos os resultados foram maus. Ajudado pela competência e empenho do seu amigo Ferro Rodrigues (que deixou no pântano) conseguiu criar os fundamentos de uma verdadeira Segurança Social, fez um trabalho ímpar em termos de diplomacia em conjunto com Jaime Gama e libertou o País de grande parte das pinceladas latino-americanas coadjuvado pelo eng.º Sócrates.
No entanto, não teve a coragem política para ir ao fulcro da questão. Achou que era possível mudar sem se mexer nos fundamentos da inércia. Cada vez que um qualquer grupelho fazia uma reivindicação, Guterres mandava-os entrar no seu gabinete, de onde saíam saciados. Em seis anos a Administração Pública não passou a funcionar melhor. Pode ter obtido, eventualmente, melhores resultados, mas sempre à custa de injecções dopantes, nunca de uma verdadeira reforma. E o mesmo se passou noutras áreas.
Pergunta-se: mas o que é que isso tem a ver com a Presidência da República? Tem tudo e não tem nada.
Se achar que o Presidente da República desempenha o papel de um pai, que à lareira dá sermões aos seus filhos estouvados e serenamente se vai deitar, vote em António Guterres. Se pelo contrário acha que o Presidente da República é uma figura fulcral no nosso sistema político e de governo aconselho-o a ponderar bem o seu sentido de voto.
Diz-se muitas vezes que a escolha do Presidente da República se reconduz à escolha da personalidade mais adequada. É precisamente isso. António Guterres revelou uma personalidade sem coragem política, incapaz de afrontar os interesses instalados e cedeu sempre que foi pressionado. Saiu do pântano que ele próprio tinha criado com o ar angelical de sempre, deixando toda a gente a afundar-se lentamente.
Ora, eu não quero um cobarde político na Presidência da República, por muito simpático e inteligente que seja. Ou até por isso mesmo. Logo, não vou votar em António Guterres.
Póvoa de Santa Iria, 21 de Agosto de 2003Parafraseando o supracitado Prof. Cavaco: eu não tenho dúvidas. E quando não tenho dúvidas é evidentemente mau sinal. Não tenho dúvidas porque tenho memória e lembro-me perfeitamente do Eng.º António Guterres.
O Eng.º António Guterres chegou ao Poder, por mérito próprio, sem dúvida e teve não o pássaro, mas a gaiola toda na mão. Comprometeu-se com milhões de portugueses e fugiu.
Pela primeira vez no regime democrático o Partido Socialista chegou ao Poder sozinho com um Primeiro-Ministro esclarecido e inteligente. E o trágico da situação é isso mesmo. António Guterres é um homem inteligente e esclarecido, não um tecnocrata com meia dúzia de dogmas mal aprendidos.
Percebeu na perfeição os problemas do País ou como se diz agora, fez o diagnóstico correcto da situação.
Percebeu que o País tinha que investir de forma séria na educação e declarou-se apaixonado. A paixão foi fugaz. Guterres deixou-a entregue a meia dúzia de presunçosos incompetentes que se regeram pelo princípio que enuncia: o menino não sabe ler? Não faz mal. Veja os bonecos que nós vamos contratar os melhores ilustradores do mercado.
E sobretudo alimentou os vícios situacionistas instalados. Passou o tempo a almoçar com "lobbies", inspirado pelo ecumenismo da Terceira Via. Foi incapaz de incomodar os interesses que se degladiam na Saúde, na Construção Civil e Obras Públicas, de tornar justo o contributo que cada português dá, através dos impostos. Com o devido respeito, o Primeiro-Ministro mais parecia um qualquer monarca, desfilando pela avenida, sorrindo à esquerda e piscando o olho à direita, sendo recebido no fim por um conjunto de acólitos que entre palmadinhas nas costas e a outra mão discretamente estendida, elogiavam o seu desempenho. Continuou a engordar a máquina do Estado com despudor e incapaz de alterar comportamentos, só com um custo desproporcionado conseguiu melhorar as condições de vida do País. Porque, sejamos objectivos: nem todos os resultados foram maus. Ajudado pela competência e empenho do seu amigo Ferro Rodrigues (que deixou no pântano) conseguiu criar os fundamentos de uma verdadeira Segurança Social, fez um trabalho ímpar em termos de diplomacia em conjunto com Jaime Gama e libertou o País de grande parte das pinceladas latino-americanas coadjuvado pelo eng.º Sócrates.
No entanto, não teve a coragem política para ir ao fulcro da questão. Achou que era possível mudar sem se mexer nos fundamentos da inércia. Cada vez que um qualquer grupelho fazia uma reivindicação, Guterres mandava-os entrar no seu gabinete, de onde saíam saciados. Em seis anos a Administração Pública não passou a funcionar melhor. Pode ter obtido, eventualmente, melhores resultados, mas sempre à custa de injecções dopantes, nunca de uma verdadeira reforma. E o mesmo se passou noutras áreas.
Pergunta-se: mas o que é que isso tem a ver com a Presidência da República? Tem tudo e não tem nada.
Se achar que o Presidente da República desempenha o papel de um pai, que à lareira dá sermões aos seus filhos estouvados e serenamente se vai deitar, vote em António Guterres. Se pelo contrário acha que o Presidente da República é uma figura fulcral no nosso sistema político e de governo aconselho-o a ponderar bem o seu sentido de voto.
Diz-se muitas vezes que a escolha do Presidente da República se reconduz à escolha da personalidade mais adequada. É precisamente isso. António Guterres revelou uma personalidade sem coragem política, incapaz de afrontar os interesses instalados e cedeu sempre que foi pressionado. Saiu do pântano que ele próprio tinha criado com o ar angelical de sempre, deixando toda a gente a afundar-se lentamente.
Ora, eu não quero um cobarde político na Presidência da República, por muito simpático e inteligente que seja. Ou até por isso mesmo. Logo, não vou votar em António Guterres.
Nuno Augusto
Texto disponível em http://detrasdoreposteiro.blogspot.com e http://detrasdoreposteiro.no.sapo.pt
8/02/2003
OS COMEDORES DE BERINGELAS
Vou hoje falar-vos de um tema que me é particularmente caro. A gastronomia. Um dos meus mais frequentes devaneios esquizofrénicos consiste em imaginar que a minha missão neste mundo é a de enchê-lo com McSilvas. Imagino-me hoje em Budapeste, amanhã em Hong-Kong, a inaugurar McSilvas, onde as Happy Meals trazem uma canja de galinha e biscoitos com um travo a erva doce e a ementa principal são sandes de torresmos. Mas não é com os meus devaneios que quero utilizar os 2.000 caracteres que o "Triângulo" graciosamente me concede.
Esta crónica aborda um tipo muito especial de concidadãos. Os comedores de beringelas. Esse tipo de cidadãos tem uma predilecção muito particular por beringelas. Esse gosto não é muito bem aceite pela restante comunidade. Na verdade, sempre existiram comedores de beringelas. Não sei se é por predisposição genética, por hábito ou por opção. Nem é essa a questão fulcral.
Sentindo-se discriminados, os comedores de beringelas criaram entre si um pacto, um código de conduta, supostamente para fazerem face a essa discriminação. Entenda-se que os comedores de beringelas não são proscritos, nem deixam de existir brilhantes médicos só porque comem beringelas, dedicados políticos, ponderados juízes. Como aliás existem políticos católicos, médicos vegetarianos, directores-gerais sportinguistas ou soldadores abstémios.
Ora, com o pretexto de corrigirem essa discriminação, os comedores de beringelas passaram a utilizar esse facto como único critério sempre que a sociedade em geral lhes concedia algum poder de decisão. Assim, sempre que era preciso escolher alguém para desempenhar um determinado cargo ou para usufruir de um direito concreto, os decisores beringélicos deixaram de ter em conta a competência, a preparação técnica, a vocação ou a necessidade. O único critério prevalecente era a particularidade de apreciação de beringelas. Quem não gostasse de beringelas estaria automaticamente afastado de uma determinada atribuição, independentemente de ser o mais competente nessa matéria. Ora, isto é discriminação. A mesma discriminação que supostamente estaria na origem do pacto entre os beringelivoros.
Fica assim demonstrado que ao contrário do que muitos afirmam, não são os comedores de beringelas nenhuma espécie de iluminados. Não são aliás nenhuma espécie. E regem-se pelos mesmos padrões mentais da restante sociedade.
Tudo isto seria amenizado se o gosto por beringelas fosse aceite pelos que não comem beringelas. No entanto a aceitação não se decreta, não se impõe, quanto muito incute-se.
E curiosamente muitos dos comedores de beringelas seriam os primeiros a reagir contra essa aceitação, pois isso implicaria o fim do tratamento privilegiado e obrigaria a que fossem vistos à luz das suas capacidades enquanto seres humanos e cidadãos e não simplesmente pela prodigalidade no consumo do fruto.
E muita mediocridade viria ao de cima, muitos beringelómanos perderiam poder, pois ao contrário do que alguns afirmam, a beringela não possui nenhuma substância alucinogénea na sua composição, que torne os seus comedores especialmente brilhantes ou sensíveis.
Esta crónica aborda um tipo muito especial de concidadãos. Os comedores de beringelas. Esse tipo de cidadãos tem uma predilecção muito particular por beringelas. Esse gosto não é muito bem aceite pela restante comunidade. Na verdade, sempre existiram comedores de beringelas. Não sei se é por predisposição genética, por hábito ou por opção. Nem é essa a questão fulcral.
Sentindo-se discriminados, os comedores de beringelas criaram entre si um pacto, um código de conduta, supostamente para fazerem face a essa discriminação. Entenda-se que os comedores de beringelas não são proscritos, nem deixam de existir brilhantes médicos só porque comem beringelas, dedicados políticos, ponderados juízes. Como aliás existem políticos católicos, médicos vegetarianos, directores-gerais sportinguistas ou soldadores abstémios.
Ora, com o pretexto de corrigirem essa discriminação, os comedores de beringelas passaram a utilizar esse facto como único critério sempre que a sociedade em geral lhes concedia algum poder de decisão. Assim, sempre que era preciso escolher alguém para desempenhar um determinado cargo ou para usufruir de um direito concreto, os decisores beringélicos deixaram de ter em conta a competência, a preparação técnica, a vocação ou a necessidade. O único critério prevalecente era a particularidade de apreciação de beringelas. Quem não gostasse de beringelas estaria automaticamente afastado de uma determinada atribuição, independentemente de ser o mais competente nessa matéria. Ora, isto é discriminação. A mesma discriminação que supostamente estaria na origem do pacto entre os beringelivoros.
Fica assim demonstrado que ao contrário do que muitos afirmam, não são os comedores de beringelas nenhuma espécie de iluminados. Não são aliás nenhuma espécie. E regem-se pelos mesmos padrões mentais da restante sociedade.
Tudo isto seria amenizado se o gosto por beringelas fosse aceite pelos que não comem beringelas. No entanto a aceitação não se decreta, não se impõe, quanto muito incute-se.
E curiosamente muitos dos comedores de beringelas seriam os primeiros a reagir contra essa aceitação, pois isso implicaria o fim do tratamento privilegiado e obrigaria a que fossem vistos à luz das suas capacidades enquanto seres humanos e cidadãos e não simplesmente pela prodigalidade no consumo do fruto.
E muita mediocridade viria ao de cima, muitos beringelómanos perderiam poder, pois ao contrário do que alguns afirmam, a beringela não possui nenhuma substância alucinogénea na sua composição, que torne os seus comedores especialmente brilhantes ou sensíveis.
MEMÓRIA DE ELEFANTE
Caros leitores,
Vem hoje à liça uma das minhas (recentes) actividades, que se prende com a investigação sobre História. Nessa pesquisa, que me tem levado de biblioteca em biblioteca, de instituto em instituto, descobri uma pequena história que não resisto a transcrever nas páginas do "Triângulo"
:
Era uma vez, há muitos, muitos anos, um belo reino situado na encosta de uma pequena montanha, espraiando-se na margem norte do estuário de um belo rio. Em certa ocasião, chegou a esse reino um jovem mancebo, pequeno no tamanho, mas grande na altivez e decidido nas atitudes, honrando a tradição daquelas terras, onde os jovens varões desafiavam, de mãos nuas e peito aberto, as bestas que dominavam os imensos pastos. Num ápice o jovem tomou o poder e logo concedeu forais, procurando assim repovoar o reino. Apoiado pelos seus apaniguados, que se reviam na sua força interior, o jovem príncipe foi fortalecendo o seu poder e continuou a distribuir foros e benesses, transformando grande parte do seu reino outrora bucólico num imenso emaranhado de altos e monolíticos castelos de betão, onde acorriam milhares de estrangeiros, fascinados pela possibilidade de trocarem as suas modestas casas por um lugar num castelo. Homem de cultura, o outrora jovem mancebo promoveu concursos de gastronomia, onde com aparente satisfação, os seus apoiantes deglutiam aquela que se tornou a iguaria do reino: o sapo vivo. Num pequeno mas populoso condado do sul do reino começaram a surgir vozes em discordância com a política de construção de castelos atrás de castelos, à frente, dos lados, por cima, por baixo. Não se intimidou o monarca com tal aleivosia e ordenou que mais castelos fossem erigidos. Ripostaram os homens-bons desse condado que se estava a tornar impossível estacionar os milhares de carruagens que convergiam para aqueles lados, que os mestres não possuíam academias para ensinarem os jovens alunos nas artes e nos ofícios e que a décima daquele lugar não era aplicada em benfeitorias necessárias àquela população. Despeitado, o monarca respondeu com o desprezo por aquela parte do reino. Por esta altura, alguns dos comensais, incapazes de deglutir os batráquios cada vez mais volumosos, abandonaram a mesa, descobrindo-se então que se alguns comiam sapos, outros comiam iguarias bem mais aprazíveis, num cenário orwelliano. Começando nessa pequeno condado do sul, a revolta foi lentamente crescendo, alastrando-se, entre sussurros e abraços cúmplices, até ao dia em que no decorrer de um torneio que se realizava tradicionalmente de quatro em quatro anos naquele reino, o outrora jovem e garboso mancebo foi derrotado por uma donzela de voz suave mas firme de intentos, que numa estocada, o derrubou do cavalo, com um golpe certeiro na genitália, deixando-o prostrado no terreiro, perante o espanto de muitos, o júbilo de outros e o secreto contentamento de alguns. Chegara ao fim o seu reinado.
Vem hoje à liça uma das minhas (recentes) actividades, que se prende com a investigação sobre História. Nessa pesquisa, que me tem levado de biblioteca em biblioteca, de instituto em instituto, descobri uma pequena história que não resisto a transcrever nas páginas do "Triângulo"
:

Era uma vez, há muitos, muitos anos, um belo reino situado na encosta de uma pequena montanha, espraiando-se na margem norte do estuário de um belo rio. Em certa ocasião, chegou a esse reino um jovem mancebo, pequeno no tamanho, mas grande na altivez e decidido nas atitudes, honrando a tradição daquelas terras, onde os jovens varões desafiavam, de mãos nuas e peito aberto, as bestas que dominavam os imensos pastos. Num ápice o jovem tomou o poder e logo concedeu forais, procurando assim repovoar o reino. Apoiado pelos seus apaniguados, que se reviam na sua força interior, o jovem príncipe foi fortalecendo o seu poder e continuou a distribuir foros e benesses, transformando grande parte do seu reino outrora bucólico num imenso emaranhado de altos e monolíticos castelos de betão, onde acorriam milhares de estrangeiros, fascinados pela possibilidade de trocarem as suas modestas casas por um lugar num castelo. Homem de cultura, o outrora jovem mancebo promoveu concursos de gastronomia, onde com aparente satisfação, os seus apoiantes deglutiam aquela que se tornou a iguaria do reino: o sapo vivo. Num pequeno mas populoso condado do sul do reino começaram a surgir vozes em discordância com a política de construção de castelos atrás de castelos, à frente, dos lados, por cima, por baixo. Não se intimidou o monarca com tal aleivosia e ordenou que mais castelos fossem erigidos. Ripostaram os homens-bons desse condado que se estava a tornar impossível estacionar os milhares de carruagens que convergiam para aqueles lados, que os mestres não possuíam academias para ensinarem os jovens alunos nas artes e nos ofícios e que a décima daquele lugar não era aplicada em benfeitorias necessárias àquela população. Despeitado, o monarca respondeu com o desprezo por aquela parte do reino. Por esta altura, alguns dos comensais, incapazes de deglutir os batráquios cada vez mais volumosos, abandonaram a mesa, descobrindo-se então que se alguns comiam sapos, outros comiam iguarias bem mais aprazíveis, num cenário orwelliano. Começando nessa pequeno condado do sul, a revolta foi lentamente crescendo, alastrando-se, entre sussurros e abraços cúmplices, até ao dia em que no decorrer de um torneio que se realizava tradicionalmente de quatro em quatro anos naquele reino, o outrora jovem e garboso mancebo foi derrotado por uma donzela de voz suave mas firme de intentos, que numa estocada, o derrubou do cavalo, com um golpe certeiro na genitália, deixando-o prostrado no terreiro, perante o espanto de muitos, o júbilo de outros e o secreto contentamento de alguns. Chegara ao fim o seu reinado.
OS BISBILHOTEIROS
Ao longo da nossa existência enquanto cultura e civilização, muitos autores, bem mais sábios e cultos que eu, discorreram sobre uma peculiar característica dos portugueses: a bisbilhotice. E associada a esta irresistível tendência para espiolhar a vida alheia vem naturalmente associada uma outra: a desconfiança.
Os portugueses são bisbilhoteiros e por isso mesmo desconfiados, pois a nossa visão do mundo é sempre um reflexo de nós mesmos.
Durante décadas, o regime autoritário exerceu uma "fiscalização" que arbitrariamente misturava vida privada com vida íntima. O Portugal democrático teve alguma dificuldade, para não dizer muita, em aceitar qualquer tipo de fiscalização, mesmo aquela vinculada à lei.
Existem duas ideias sobre as quais convêm fazer alguns esclarecimentos, por muito óbvios que eles sejam. O primeiro prende-se com a necessidade de fiscalização em qualquer sistema social e sobretudo num sistema democrático: é um dos únicos garantes do seu funcionamento e da sua justiça. Não por má fé ou por desconfiança dos outros, mas pela assunção da natureza humana e da sua falibilidade e imperfeição. O fito solidário do próprio conceito de sociedade implica a criação de mecanismos que permitam a essa sociedade aferir as relações entre aqueles que a compõem. A segunda refere-se à confusão que existe entre vida íntima e vida privada. Se eu gosto mais de bacalhau com batatas ou de cozido à portuguesa é do meu foro íntimo e não tem qualquer repercussão directa no convívio social. Se eu tenho um rendimento mensal de 1.000 ou 10.000 euros, esse facto diz directamente respeito à restante sociedade, porque o meu contrato de cidadania implica que contribua proporcionalmente para essa mesma sociedade. Numa sociedade alicerçada no sucesso material (seja o que isso for), este argumento é muitas vezes o argumento da inveja, da utilização perversa por parte de quem se sente afastado desse sucesso, com dolo. Mas a má utilização desse princípio não belisca em nada a sua justeza e a sua necessidade.
Hoje, ninguém fiscaliza ninguém, e o cobertor de fino algodão que deveria ser a fiscalização num regime democrático da sua própria democraticidade e adequação aos fins é uma áspera manta de retalhos da qual todos procuram afastar a sua pueril e virgem cútis.
Em vez de nos fiscalizarmos uns aos outros, de forma transparente e recíproca, pré-determinada, em que o fiscal seja fiscalizado, entrámos no campo da pura bisbilhotice.
Os portugueses são bisbilhoteiros e por isso mesmo desconfiados, pois a nossa visão do mundo é sempre um reflexo de nós mesmos.
Durante décadas, o regime autoritário exerceu uma "fiscalização" que arbitrariamente misturava vida privada com vida íntima. O Portugal democrático teve alguma dificuldade, para não dizer muita, em aceitar qualquer tipo de fiscalização, mesmo aquela vinculada à lei.
Existem duas ideias sobre as quais convêm fazer alguns esclarecimentos, por muito óbvios que eles sejam. O primeiro prende-se com a necessidade de fiscalização em qualquer sistema social e sobretudo num sistema democrático: é um dos únicos garantes do seu funcionamento e da sua justiça. Não por má fé ou por desconfiança dos outros, mas pela assunção da natureza humana e da sua falibilidade e imperfeição. O fito solidário do próprio conceito de sociedade implica a criação de mecanismos que permitam a essa sociedade aferir as relações entre aqueles que a compõem. A segunda refere-se à confusão que existe entre vida íntima e vida privada. Se eu gosto mais de bacalhau com batatas ou de cozido à portuguesa é do meu foro íntimo e não tem qualquer repercussão directa no convívio social. Se eu tenho um rendimento mensal de 1.000 ou 10.000 euros, esse facto diz directamente respeito à restante sociedade, porque o meu contrato de cidadania implica que contribua proporcionalmente para essa mesma sociedade. Numa sociedade alicerçada no sucesso material (seja o que isso for), este argumento é muitas vezes o argumento da inveja, da utilização perversa por parte de quem se sente afastado desse sucesso, com dolo. Mas a má utilização desse princípio não belisca em nada a sua justeza e a sua necessidade.
Hoje, ninguém fiscaliza ninguém, e o cobertor de fino algodão que deveria ser a fiscalização num regime democrático da sua própria democraticidade e adequação aos fins é uma áspera manta de retalhos da qual todos procuram afastar a sua pueril e virgem cútis.
Em vez de nos fiscalizarmos uns aos outros, de forma transparente e recíproca, pré-determinada, em que o fiscal seja fiscalizado, entrámos no campo da pura bisbilhotice.
FUGA PARA A FRENTE
Recentemente, ouvi um número espantoso. No seu conjunto, os Planos Directores Municipais prevêem espaços para habitação que daria para 50 milhões de pessoas!
Num país que tem uma taxa de crescimento populacional perto do zero e profundas assimetrias entre o espaço urbano e o rural, este desvairo diz muito sobre a responsabilidade de eleitores e eleitos.
Não tenho qualquer intenção de produzir libelos demagógicos contra os autarcas. Repito o que já disse: não acredito que os autarcas sejam um conjunto de condenados britânicos a caminho da Austrália, que por desorientação do piloto do navio tenham aportado no ponto mais ocidental da Europa.
No meio da orgia programática da Constituição de 1976, a Autonomia Local parecia ter finalmente espaço para germinar. Só que por baixo da beleza pictórica do Portugal dos Pequeninos construído pelo Dr. Oliveira Salazar estava um país profundamente atrasado, esvaído numa guerra estúpida e numa emigração em massa. E no frémito da construção de um país evoluído, as autarquias locais foram ficando com as cascas de melão. Perante a necessidade de criarem as infra-estruturas mais básicas nas suas autarquias e na ausência de meios para tal fim, as autarquias procuraram financiamento nos privados. E uma simples assinatura passou a significar muito. Dinheiro a curto prazo para os autarcas e uma exponencial valorização de terrenos para os proprietários de terrenos. Vejamos um exemplo prático: a câmara municipal A tem a necessidade de criar infra-estruturas para 1000 munícipes, e como não tem verbas para tal, financia-se com o dinheiro proveniente da autorização da construção de mais 1000 fogos. No fim desta operação tem as infra-estruturas criadas para 1000 pessoas, mas outro problema: mais 3000 habitantes. Solução? Autorizam-se mais 2000 fogos. Há 30 anos que andamos a fugir para a frente, com a agravante de os problemas gerados pela concentração das populações serem mais do que proporcionais a esse crescimento.
O leitor atento poderá notar que muitas vezes são precisamente aqueles autarcas que mais desbragadamente seguiram esta política de autorização selvagem que têm popularidade e que "limpam" maiorias absolutas em clima de festa, entre sardinhadas e distribuição gratuita de torradeiras e moinhos de café. Deverá então o leitor aproveitar essa capacidade de observação para recuar 40 anos e para perceber o nível de exigência das populações em relação aos seus eleitos. Para se lembrar (ou para tomar conhecimento) de um país sem água canalizada em muitas casas, sem electricidade, de milhares de dedos indicadores da mão (direita, claro) a servirem de assinatura. Imagine ou lembre-se de um país sem jipes nem gt's, mas cheio de pasteleiras às soleiras das portas ou, no caso dos mais afortunados, dessa maravilha do design conhecida por v5. E pondere o grau de informação e de exigência dos retratados neste quadro, mesmo depois de 40 anos. Pondere bem, e não faça como o nosso ex-primeiro ministro eng. António Guterres, que um dia, em plena Assembleia da República, aferiu o grau de desenvolvimento do País pelo número de telemóveis, desaparecendo, meses depois, engolido pelo pântano do que o próprio criara, enquanto respondia a um sms.
Precisamos de cidadãos atentos, informados, que não se fechem em casulos, que não se fascinem com discursos pungentes e efeitos especiais. E precisamos de autarcas que parem de correr, que parem de fugir, que tenham a coragem de dizer não.
Num país que tem uma taxa de crescimento populacional perto do zero e profundas assimetrias entre o espaço urbano e o rural, este desvairo diz muito sobre a responsabilidade de eleitores e eleitos.
Não tenho qualquer intenção de produzir libelos demagógicos contra os autarcas. Repito o que já disse: não acredito que os autarcas sejam um conjunto de condenados britânicos a caminho da Austrália, que por desorientação do piloto do navio tenham aportado no ponto mais ocidental da Europa.
No meio da orgia programática da Constituição de 1976, a Autonomia Local parecia ter finalmente espaço para germinar. Só que por baixo da beleza pictórica do Portugal dos Pequeninos construído pelo Dr. Oliveira Salazar estava um país profundamente atrasado, esvaído numa guerra estúpida e numa emigração em massa. E no frémito da construção de um país evoluído, as autarquias locais foram ficando com as cascas de melão. Perante a necessidade de criarem as infra-estruturas mais básicas nas suas autarquias e na ausência de meios para tal fim, as autarquias procuraram financiamento nos privados. E uma simples assinatura passou a significar muito. Dinheiro a curto prazo para os autarcas e uma exponencial valorização de terrenos para os proprietários de terrenos. Vejamos um exemplo prático: a câmara municipal A tem a necessidade de criar infra-estruturas para 1000 munícipes, e como não tem verbas para tal, financia-se com o dinheiro proveniente da autorização da construção de mais 1000 fogos. No fim desta operação tem as infra-estruturas criadas para 1000 pessoas, mas outro problema: mais 3000 habitantes. Solução? Autorizam-se mais 2000 fogos. Há 30 anos que andamos a fugir para a frente, com a agravante de os problemas gerados pela concentração das populações serem mais do que proporcionais a esse crescimento.
O leitor atento poderá notar que muitas vezes são precisamente aqueles autarcas que mais desbragadamente seguiram esta política de autorização selvagem que têm popularidade e que "limpam" maiorias absolutas em clima de festa, entre sardinhadas e distribuição gratuita de torradeiras e moinhos de café. Deverá então o leitor aproveitar essa capacidade de observação para recuar 40 anos e para perceber o nível de exigência das populações em relação aos seus eleitos. Para se lembrar (ou para tomar conhecimento) de um país sem água canalizada em muitas casas, sem electricidade, de milhares de dedos indicadores da mão (direita, claro) a servirem de assinatura. Imagine ou lembre-se de um país sem jipes nem gt's, mas cheio de pasteleiras às soleiras das portas ou, no caso dos mais afortunados, dessa maravilha do design conhecida por v5. E pondere o grau de informação e de exigência dos retratados neste quadro, mesmo depois de 40 anos. Pondere bem, e não faça como o nosso ex-primeiro ministro eng. António Guterres, que um dia, em plena Assembleia da República, aferiu o grau de desenvolvimento do País pelo número de telemóveis, desaparecendo, meses depois, engolido pelo pântano do que o próprio criara, enquanto respondia a um sms.
Precisamos de cidadãos atentos, informados, que não se fechem em casulos, que não se fascinem com discursos pungentes e efeitos especiais. E precisamos de autarcas que parem de correr, que parem de fugir, que tenham a coragem de dizer não.
8/01/2003
ROMEU E JULIETA É O MELHOR ROMANCE PORQUE OS DOIS NUNCA PARTILHARAM UM T2
Confesso que o meu título não só é inestético como é também redutor.
Mas nem tanto.
Imaginem que o Romeu não era filho de príncipes venezianos e que a Julieta não pertencia à classe nobiliárquica, de, por exemplo, Florença.
Imaginem que o Romeu era um chavalo que vivia em Santo António dos Cavaleiros, ou no Seixal, ou na Amadora, que aos dez anos teve os seus primeiros ténis Nike, e que bem apessoado, cheio de estilo, trepou a sua adolescência como um bingo em que se faz linha com naturalidade e se ganha o primeiro prémio com um palito ao canto da boca.
Temos então o nosso Romeu, homem feito, dezasseis aninhos de guelra e muito peito, pronto a esclarecer como é que se faz, verdadeiro mestre na arte de bem engatatar, não é gaffe, é o verbo adequado, como adequada é a Julieta, essa miúda de pernas grossas mas esguias, de saias que mostram o suficiente sem serem escabrosas, de peitos salientes na camisola de lã e cabelo apanhado a completar uma cara onde o ligeiro toque de baton finaliza, de forma magistral toda a sua figura.
Temos pois aqui os nossos heróis. E Romeu merece sem dúvida esse epíteto: É simpático, um grande jogador de bola, verdadeira emoção no ginásio quando a Setôra Helena manda pôr a cama elástica e o mesmo se aplica a Julieta; Quantas apostas já correram na turma para saber qual o sortudo que mais se tinha aproximado de ver os seus mamilos? Um carinho dela é a conquista da Normândia, um beijo uma Hiroshima incontrolável.
Claro que todos apostavam no romance, que aguardava apenas uma oportunidade. E diga-se que o código era claro: O Romeu e a Julieta.
Apareceu então aquele bendito passeio a Tomar, com a malta toda na camioneta, a fazer barulho, com o rádio do Mário aos berros, o Carlos a enrolar umas ganzas e o Romeu e a Julieta, sentados lado a lado, a brincarem um com o outro, já a prepararem o terreno para a conclusão mais óbvia.
Tudo correu às mil maravilhas: a setôra Lurdes bebeu que se fartou, fumou uns cigarros e limitava-se a olhar com olhos meio embevecidos meio goraz pescado há três dias, o Romeu convidou a Julieta a dar uma voltinha de barco e no fundo a malta, na margem aplaudiu quando ele largou os remos e se mandou a ela, aplaudiu.
Quando voltámos de Tomar a coisa prometia....o Romeu pôs a mão onde a parte masculina da turma gostava de pôr e a Julieta correspondeu com os devidos fonemas.
Estava pois concretizada a relação preferida, determinada.
O Romeu continuou a jogar à bola, autêntico Maradona dos juniores, a Julieta continuou a dar-lhe um beijo depois dos jogos e aguardava-se apenas que, terminado o 12º ano ele assumisse o seu papel de noivo e de sócio-gerente na loja do pai. Ela, claro, continuaria a estudar, iria tirar um curso superior.
A primeira vez, foi de facto um bocado embaraçosa. Foram ambos para a viagem de finalistas em Marbella e acabou por acontecer, depois de algumas Cubas Libres. Entre suores e espasmos, aconteceu.
Claro que Romeu, jovem coqueluche e sócio-gerente da firma do pai não deixou de participar activamente nas idas ao Sampaio, bares de engate e saídas com destino certo num determinado prédio da Columbano Bordalo Pinheiro.
O ritual repetia-se todos os sábados com o beijo apaixonado dado ás 00.15 a Julieta e a entrada imediata no GTi de meia tigela que estivesse à mão.
Por sua vez, Julieta continuava a frequentar o curso superior de Línguas e Literaturas Românicas. Sempre na expectativa de algo mais que as relações de Sexta à noite no carro, e diga-se à espera que o Rui, seu colega, deixasse Kant a um lado.
O Rui devia estar mesmo apaixonado por Kant, ou então muito distraído. E acabado o curso, colocada numa escola de putos barulhentos e inacessíveis, Julieta estava pronta para casar. O mesmo se diga de Romeu, pois entretanto tinham comprado um T2 perto e nada parecia faltar.
Diga-se que o casamento foi lindo. Aliás, todos os casamentos são lindos. O Romeu de preto, alto, atlético, pantera coxa e ressacada, de pestanas coladas, a Julieta, modelo enfrascado em passos côncavos, e depois o copo de água, com o tio Luís completamente bêbedo a arrastar a tia Rosa e as maquilhagens e perfumes dos convidados a desfazerem-se sucessivamente nas bochechas dos dois, enquanto os envelopes se aninhavam no colo dos dois.
A lua-de-mel é sempre sempre um filme de Walt Disney que se compra com o Rambo IV.
O estranho vem depois, quando se chega a uma cama que teimam em afirmar que é nossa quando nunca lá dormimos. Vem depois com as dúvidas nos passos a tomar quando a casa está às escuras. Quando à mesa não estão as pessoas habituais.
Julieta era, foi e será sempre uma aprendiz exemplar. Mas nunca será uma cozinheira. O que desagradou profundamente a Romeu. Bom, bom era vir do treino e comer o franguinho da mãe Emília, com as batatinhas fritas.
E Romeu, diga-se, nunca será um corredor de fundo. É antes um velocista que percorridos os 100 metros, arfa e extenuado, quer descansar.
Vem depois aquele momento de carinho, em que posta a loiça na máquina, se sentam em frente ao televisor, enroscados quais gatos com o cio, beijinhos nos ombros e no queixo e eis que começa a telenovela, eis que Romeu se levanta e vai ter com a malta ao café, beber a bica e um whisky, fazer um snooker.
Ao fim de semana a coisa melhora, porque tendo a Sport TV, não há jogo que a malta perca em casa do Romeu. Assa-se umas febras, umas entremeadas, abre-se um garrafão que o pai do Toni trouxe da terra e está feito. Se o Benfica ganhar, a malta ainda bebe um Cardhu e depois vai até ao café, para fazer uma cartada.
E assim vão o herói e a miúda mais boa da turma.
Claro que falta aqui um elemento essencial, que é o rebento. Entre tantas corridas de 100 metros, alguma teria que dar um record. Perdão, um recuerdo.
A Julieta ficou então grávida, entre vivas e cumprimentos.
Se a caloria tinha sido nos últimos meses uma companheira, uma camarada das horas más, com a gravidez tornou-se uma espécie de ursinho de peluche que se leva até para a casa de banho e se coloca sentado no bidé.
Romeu por outro lado, carente dos meetings toca e foge voltou às suas amigas eslavas, altas e rosadas, da Columbano, tendo até direito a uma praxe do tipo o bom filho à casa retorna.
Nasceu pois a Cátia Vanessa, espécie de camaleão parecido com todos os familiares que invadiram o T2, beberam o melhor Cardhu das noites de bola e fizeram desaparecer as 3 dúzias de bolos sortidos da pastelaria do Sr. Manel, que a Maria do Carmo, Carminho, mãe da Julieta e sogra do Romeu encomendara, entre conversas sobre carros e conselhos avulsos e absurdos sobre puericultura.
A romaria continuou com o Sr. Guilherme, cliente da loja há mais de 10 anos, respectiva esposa-autotanque e filhos irritantes, o Nesga, o Palitos e o Zeca, amigos das suecadas e das putas, a tia Ondina, que no casamento se lembrou de ter afrontamentos, e até o Rui, colega da Julieta na Faculdade e por acaso, professor na mesma escola.
Depois é que foi o bom e o bonito. Segundo o Romeu, a Cátia Vanessa sai à mãe, chorona; a Julieta achava que saía ao pai, sempre descontente. Vamos a um consenso: a miúda passava as noites a berrar.
Nos primeiros meses Romeu sentiu-se constrangido e mal punha os pés fora de casa. Olhava embevecido a sua filha e incomodado o hipopótamo em que a Julieta se tinha transformado. Bebericava noites fora whisky enquanto trincava amendoins e esporadicamente perguntava como é que tinha corrido o dia às suas duas meninas.
No verão, foram passar 15 dias a casa da tia Margarida, no Algarve, entre fraldas fedorentas e fatos de banho que teimavam em não segurar as mamas de Julieta, onde as provas de 100 metros se transformaram em corridinhas de 50.
Na loja as coisas corriam às mil maravilhas: não havia mulher, nova, recauchutada ou velha que não perguntasse pela Cátia Vanessa e que não felicitasse o pai e que perante um elemento comprovadamente fértil se inibisse de o cumprimentar efusivamente.
Julieta voltou à escola, aos miúdos maioritariamente broncos e ao Rui, essa coisa peganhenta que teimava em apaparicá-la, com a elegância de um morcego em pleno dia na Flórida.
Voltava ao fim da tarde a casa, ia buscar a Cátia Vanessa ao infantário, olhando a cozinha, já arrumada pela empregada, entretendo-se a mudar copos e tupperwares enquanto Romeu não chegava, a tresandar a cerveja e usando o vernáculo como muleta retórica.
Jantavam quais ruminantes em silêncio, excepto a Cátia Vanessa, que teimava em espalhar tudo pela mesa, para grande descontentamento de Romeu, que queria ver o telejornal em paz e olhava fulminante Julieta, sempre que a trajectória dos alimentos projectados pela sua filha coincidiam com o seu espaço aéreo.
Levantava-se, acabado o repasto, exibindo a sua crescente volumetria e feita a higiene dentária manifestava-se com um “estou satisfeito”, aerofagicamente falando, claro, dirigindo-se então para o café, onde eminente, cortava um Ás de Copas com um Duque de Paus.
As já distantes corridas de 100 metros tinham-se transformado em lançamento de peso: O Romeu lançava-se para o lado direito da cama e a Julieta, caía, graciosa, com os seus 77kg, no lado esquerdo da cama. Grande Ernesto, pai de Romeu, homem prevenido que lhes tinha oferecido uma cama robusta.
Se Romeu se contentava com as Irinas e as Natachas da Columbano, nas primeiras sextas do mês contabilístico, Julieta ficava a ver navios, tipo Brad Pitt ou Keanu Reeves, em filmes sucessivamente alugados, refugiada em molotoff’s e sortidos de hipermercado.
Aos domingos iam almoçar a casa dos pais, ou dos sogros, conforme a perspectiva, com uma programação de fazer inveja. Romeu mostrava, orgulhoso, o cartão de sócia do seu clube, desde a nascença, da sua filha, enquanto Julieta abanava os ombros e fazia esgares às inquirições de sua mãe.
Foi então que Julieta, um dia por acaso, num intervalo entre duas aulas, olhou para o Rui e achou que afinal ele não parecia um morcego, quanto muito um marsupial. Foi então que finalmente almoçou com ele fora do refeitório da escola, e que no caminho de volta resolveu masturbá-lo, enquanto o mesmo estrebuchava, suava, o seu cabelo oleoso pingava e quase hirto, teve um orgasmo.
Voltou ao fim da tarde para casa, viu o rinoceronte a entrar, a comer, a manifestar-se ruidosamente e a sair para o café, e deitou-se com um sorriso sereno mas vivo.
No outro dia, saída do banho, conseguiu limpar-se sem voltar costas ao espelho e olhou-se de frente, olhou os pneus e os socalcos que povoavam o seu corpo e lembrou-se dos seus seios outrora rijos e proeminentes.
Limpou-se, vestiu-se, perfumou-se, passou um perlimpimpim pela cara e foi para a escola, sentindo em uníssono o roncar do motor e o seu ronronar.
Mas nem tanto.
Imaginem que o Romeu não era filho de príncipes venezianos e que a Julieta não pertencia à classe nobiliárquica, de, por exemplo, Florença.
Imaginem que o Romeu era um chavalo que vivia em Santo António dos Cavaleiros, ou no Seixal, ou na Amadora, que aos dez anos teve os seus primeiros ténis Nike, e que bem apessoado, cheio de estilo, trepou a sua adolescência como um bingo em que se faz linha com naturalidade e se ganha o primeiro prémio com um palito ao canto da boca.
Temos então o nosso Romeu, homem feito, dezasseis aninhos de guelra e muito peito, pronto a esclarecer como é que se faz, verdadeiro mestre na arte de bem engatatar, não é gaffe, é o verbo adequado, como adequada é a Julieta, essa miúda de pernas grossas mas esguias, de saias que mostram o suficiente sem serem escabrosas, de peitos salientes na camisola de lã e cabelo apanhado a completar uma cara onde o ligeiro toque de baton finaliza, de forma magistral toda a sua figura.
Temos pois aqui os nossos heróis. E Romeu merece sem dúvida esse epíteto: É simpático, um grande jogador de bola, verdadeira emoção no ginásio quando a Setôra Helena manda pôr a cama elástica e o mesmo se aplica a Julieta; Quantas apostas já correram na turma para saber qual o sortudo que mais se tinha aproximado de ver os seus mamilos? Um carinho dela é a conquista da Normândia, um beijo uma Hiroshima incontrolável.
Claro que todos apostavam no romance, que aguardava apenas uma oportunidade. E diga-se que o código era claro: O Romeu e a Julieta.
Apareceu então aquele bendito passeio a Tomar, com a malta toda na camioneta, a fazer barulho, com o rádio do Mário aos berros, o Carlos a enrolar umas ganzas e o Romeu e a Julieta, sentados lado a lado, a brincarem um com o outro, já a prepararem o terreno para a conclusão mais óbvia.
Tudo correu às mil maravilhas: a setôra Lurdes bebeu que se fartou, fumou uns cigarros e limitava-se a olhar com olhos meio embevecidos meio goraz pescado há três dias, o Romeu convidou a Julieta a dar uma voltinha de barco e no fundo a malta, na margem aplaudiu quando ele largou os remos e se mandou a ela, aplaudiu.
Quando voltámos de Tomar a coisa prometia....o Romeu pôs a mão onde a parte masculina da turma gostava de pôr e a Julieta correspondeu com os devidos fonemas.
Estava pois concretizada a relação preferida, determinada.
O Romeu continuou a jogar à bola, autêntico Maradona dos juniores, a Julieta continuou a dar-lhe um beijo depois dos jogos e aguardava-se apenas que, terminado o 12º ano ele assumisse o seu papel de noivo e de sócio-gerente na loja do pai. Ela, claro, continuaria a estudar, iria tirar um curso superior.
A primeira vez, foi de facto um bocado embaraçosa. Foram ambos para a viagem de finalistas em Marbella e acabou por acontecer, depois de algumas Cubas Libres. Entre suores e espasmos, aconteceu.
Claro que Romeu, jovem coqueluche e sócio-gerente da firma do pai não deixou de participar activamente nas idas ao Sampaio, bares de engate e saídas com destino certo num determinado prédio da Columbano Bordalo Pinheiro.
O ritual repetia-se todos os sábados com o beijo apaixonado dado ás 00.15 a Julieta e a entrada imediata no GTi de meia tigela que estivesse à mão.
Por sua vez, Julieta continuava a frequentar o curso superior de Línguas e Literaturas Românicas. Sempre na expectativa de algo mais que as relações de Sexta à noite no carro, e diga-se à espera que o Rui, seu colega, deixasse Kant a um lado.
O Rui devia estar mesmo apaixonado por Kant, ou então muito distraído. E acabado o curso, colocada numa escola de putos barulhentos e inacessíveis, Julieta estava pronta para casar. O mesmo se diga de Romeu, pois entretanto tinham comprado um T2 perto e nada parecia faltar.
Diga-se que o casamento foi lindo. Aliás, todos os casamentos são lindos. O Romeu de preto, alto, atlético, pantera coxa e ressacada, de pestanas coladas, a Julieta, modelo enfrascado em passos côncavos, e depois o copo de água, com o tio Luís completamente bêbedo a arrastar a tia Rosa e as maquilhagens e perfumes dos convidados a desfazerem-se sucessivamente nas bochechas dos dois, enquanto os envelopes se aninhavam no colo dos dois.
A lua-de-mel é sempre sempre um filme de Walt Disney que se compra com o Rambo IV.
O estranho vem depois, quando se chega a uma cama que teimam em afirmar que é nossa quando nunca lá dormimos. Vem depois com as dúvidas nos passos a tomar quando a casa está às escuras. Quando à mesa não estão as pessoas habituais.
Julieta era, foi e será sempre uma aprendiz exemplar. Mas nunca será uma cozinheira. O que desagradou profundamente a Romeu. Bom, bom era vir do treino e comer o franguinho da mãe Emília, com as batatinhas fritas.
E Romeu, diga-se, nunca será um corredor de fundo. É antes um velocista que percorridos os 100 metros, arfa e extenuado, quer descansar.
Vem depois aquele momento de carinho, em que posta a loiça na máquina, se sentam em frente ao televisor, enroscados quais gatos com o cio, beijinhos nos ombros e no queixo e eis que começa a telenovela, eis que Romeu se levanta e vai ter com a malta ao café, beber a bica e um whisky, fazer um snooker.
Ao fim de semana a coisa melhora, porque tendo a Sport TV, não há jogo que a malta perca em casa do Romeu. Assa-se umas febras, umas entremeadas, abre-se um garrafão que o pai do Toni trouxe da terra e está feito. Se o Benfica ganhar, a malta ainda bebe um Cardhu e depois vai até ao café, para fazer uma cartada.
E assim vão o herói e a miúda mais boa da turma.
Claro que falta aqui um elemento essencial, que é o rebento. Entre tantas corridas de 100 metros, alguma teria que dar um record. Perdão, um recuerdo.
A Julieta ficou então grávida, entre vivas e cumprimentos.
Se a caloria tinha sido nos últimos meses uma companheira, uma camarada das horas más, com a gravidez tornou-se uma espécie de ursinho de peluche que se leva até para a casa de banho e se coloca sentado no bidé.
Romeu por outro lado, carente dos meetings toca e foge voltou às suas amigas eslavas, altas e rosadas, da Columbano, tendo até direito a uma praxe do tipo o bom filho à casa retorna.
Nasceu pois a Cátia Vanessa, espécie de camaleão parecido com todos os familiares que invadiram o T2, beberam o melhor Cardhu das noites de bola e fizeram desaparecer as 3 dúzias de bolos sortidos da pastelaria do Sr. Manel, que a Maria do Carmo, Carminho, mãe da Julieta e sogra do Romeu encomendara, entre conversas sobre carros e conselhos avulsos e absurdos sobre puericultura.
A romaria continuou com o Sr. Guilherme, cliente da loja há mais de 10 anos, respectiva esposa-autotanque e filhos irritantes, o Nesga, o Palitos e o Zeca, amigos das suecadas e das putas, a tia Ondina, que no casamento se lembrou de ter afrontamentos, e até o Rui, colega da Julieta na Faculdade e por acaso, professor na mesma escola.
Depois é que foi o bom e o bonito. Segundo o Romeu, a Cátia Vanessa sai à mãe, chorona; a Julieta achava que saía ao pai, sempre descontente. Vamos a um consenso: a miúda passava as noites a berrar.
Nos primeiros meses Romeu sentiu-se constrangido e mal punha os pés fora de casa. Olhava embevecido a sua filha e incomodado o hipopótamo em que a Julieta se tinha transformado. Bebericava noites fora whisky enquanto trincava amendoins e esporadicamente perguntava como é que tinha corrido o dia às suas duas meninas.
No verão, foram passar 15 dias a casa da tia Margarida, no Algarve, entre fraldas fedorentas e fatos de banho que teimavam em não segurar as mamas de Julieta, onde as provas de 100 metros se transformaram em corridinhas de 50.
Na loja as coisas corriam às mil maravilhas: não havia mulher, nova, recauchutada ou velha que não perguntasse pela Cátia Vanessa e que não felicitasse o pai e que perante um elemento comprovadamente fértil se inibisse de o cumprimentar efusivamente.
Julieta voltou à escola, aos miúdos maioritariamente broncos e ao Rui, essa coisa peganhenta que teimava em apaparicá-la, com a elegância de um morcego em pleno dia na Flórida.
Voltava ao fim da tarde a casa, ia buscar a Cátia Vanessa ao infantário, olhando a cozinha, já arrumada pela empregada, entretendo-se a mudar copos e tupperwares enquanto Romeu não chegava, a tresandar a cerveja e usando o vernáculo como muleta retórica.
Jantavam quais ruminantes em silêncio, excepto a Cátia Vanessa, que teimava em espalhar tudo pela mesa, para grande descontentamento de Romeu, que queria ver o telejornal em paz e olhava fulminante Julieta, sempre que a trajectória dos alimentos projectados pela sua filha coincidiam com o seu espaço aéreo.
Levantava-se, acabado o repasto, exibindo a sua crescente volumetria e feita a higiene dentária manifestava-se com um “estou satisfeito”, aerofagicamente falando, claro, dirigindo-se então para o café, onde eminente, cortava um Ás de Copas com um Duque de Paus.
As já distantes corridas de 100 metros tinham-se transformado em lançamento de peso: O Romeu lançava-se para o lado direito da cama e a Julieta, caía, graciosa, com os seus 77kg, no lado esquerdo da cama. Grande Ernesto, pai de Romeu, homem prevenido que lhes tinha oferecido uma cama robusta.
Se Romeu se contentava com as Irinas e as Natachas da Columbano, nas primeiras sextas do mês contabilístico, Julieta ficava a ver navios, tipo Brad Pitt ou Keanu Reeves, em filmes sucessivamente alugados, refugiada em molotoff’s e sortidos de hipermercado.
Aos domingos iam almoçar a casa dos pais, ou dos sogros, conforme a perspectiva, com uma programação de fazer inveja. Romeu mostrava, orgulhoso, o cartão de sócia do seu clube, desde a nascença, da sua filha, enquanto Julieta abanava os ombros e fazia esgares às inquirições de sua mãe.
Foi então que Julieta, um dia por acaso, num intervalo entre duas aulas, olhou para o Rui e achou que afinal ele não parecia um morcego, quanto muito um marsupial. Foi então que finalmente almoçou com ele fora do refeitório da escola, e que no caminho de volta resolveu masturbá-lo, enquanto o mesmo estrebuchava, suava, o seu cabelo oleoso pingava e quase hirto, teve um orgasmo.
Voltou ao fim da tarde para casa, viu o rinoceronte a entrar, a comer, a manifestar-se ruidosamente e a sair para o café, e deitou-se com um sorriso sereno mas vivo.
No outro dia, saída do banho, conseguiu limpar-se sem voltar costas ao espelho e olhou-se de frente, olhou os pneus e os socalcos que povoavam o seu corpo e lembrou-se dos seus seios outrora rijos e proeminentes.
Limpou-se, vestiu-se, perfumou-se, passou um perlimpimpim pela cara e foi para a escola, sentindo em uníssono o roncar do motor e o seu ronronar.
7/28/2003
O SÍNDROMA DA NOVA ZELÂNDIA
Reflecti bastante antes de me decidir pelo título desta crónica. Não quero criar qualquer clima de pânico entre os meus concidadãos. Este síndroma nada tem a ver com esse fumador inveterado que noite e dia expele baforadas do lado de baixo da linha do caminho de ferro. Advirto no entanto que este síndroma é contagioso. Segundo estudos publicados recentemente por reputadas revistas de cariz científico é provável que este contágio se dê por mimetismo, por uma reacção psicossomática.
Pela manhã, os pacientes dirigem-se freneticamente ao transporte que os leva ao seu local de trabalho, invariavelmente de cabeça baixa e ritmo sincopado, percorrendo sempre as mesmas artérias, de forma automática, sem qualquer recurso aos sentidos. Aparentemente não falam, não ouvem, não cheiram, não degustam nem sentem.
Voltam à noite, ainda mais prostrados e insensíveis, procurando compulsivamente os seus casulos de onde só saem para a recolha de víveres, numa corrida envergonhada ao posto de abastecimento mais próximo, e graças às maravilhas da tecnologia moderna, só necessitam de olhar de soslaio o mostrador que em tons de verde huxley anuncia ?3,87?, obrigado? e esticar o cartão de consumo. Voltam apressados aos seus casulos, quais coelhinhos da Alice no País das Maravilhas. No estádio mais avançado é possível nem sair dos casulos e encomendar os víveres pelo telefone ?Se pretende uma pizza simples, carregue no 1; se pretende uma pizza com queijo e chouriço, carregue no 2; se pretende uma pizza paquistanesa, carregue no 3?. Quase de imediato, um rabanete zumbidor e motorizado faz a entrega. Metidos nos seus casulos, os pacientes enroscam-se confortavelmente em frente ao seu televisor. Talvez por isso e em situações de crises agudas da doença ficam confundidos quando abrem as janelas e por momentos não sabem se o que vêem é um filme ou a realidade, similar aos momentos em que acordamos no meio de um sonho. Por profilaxia muitos deixaram pura e simplesmente de abrir as janelas.
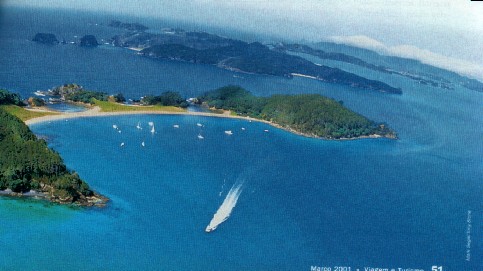
Apesar da gravidade, alguns investigadores admitem a possibilidade de cura. Acham que o autismo é apenas aparente. Que no fundo, bem no fundo, os pacientes falam, ouvem, cheiram, degustam e sentem.
Também tenho essa convicção ou se quiserem e dado que não sou cientista nem investigador, essa fé.
Pela manhã, os pacientes dirigem-se freneticamente ao transporte que os leva ao seu local de trabalho, invariavelmente de cabeça baixa e ritmo sincopado, percorrendo sempre as mesmas artérias, de forma automática, sem qualquer recurso aos sentidos. Aparentemente não falam, não ouvem, não cheiram, não degustam nem sentem.
Voltam à noite, ainda mais prostrados e insensíveis, procurando compulsivamente os seus casulos de onde só saem para a recolha de víveres, numa corrida envergonhada ao posto de abastecimento mais próximo, e graças às maravilhas da tecnologia moderna, só necessitam de olhar de soslaio o mostrador que em tons de verde huxley anuncia ?3,87?, obrigado? e esticar o cartão de consumo. Voltam apressados aos seus casulos, quais coelhinhos da Alice no País das Maravilhas. No estádio mais avançado é possível nem sair dos casulos e encomendar os víveres pelo telefone ?Se pretende uma pizza simples, carregue no 1; se pretende uma pizza com queijo e chouriço, carregue no 2; se pretende uma pizza paquistanesa, carregue no 3?. Quase de imediato, um rabanete zumbidor e motorizado faz a entrega. Metidos nos seus casulos, os pacientes enroscam-se confortavelmente em frente ao seu televisor. Talvez por isso e em situações de crises agudas da doença ficam confundidos quando abrem as janelas e por momentos não sabem se o que vêem é um filme ou a realidade, similar aos momentos em que acordamos no meio de um sonho. Por profilaxia muitos deixaram pura e simplesmente de abrir as janelas.
Apesar da gravidade, alguns investigadores admitem a possibilidade de cura. Acham que o autismo é apenas aparente. Que no fundo, bem no fundo, os pacientes falam, ouvem, cheiram, degustam e sentem.
Também tenho essa convicção ou se quiserem e dado que não sou cientista nem investigador, essa fé.
Fungágá da Bicharada
A minha crónica de hoje é dedicada aos mais novos. A memória das histórias que me contaram na infância ainda hoje me prega um largo sorriso.
Era uma vez um leão num reino em que os animais falavam. O rei da selva, preocupado com o estado deplorável e subdesenvolvido do seu reino e convencido ainda da responsabilidade sobre os restantes bichos que o seu estatuto de soberano lhe exigia, sentou-se na clareira e pôs-se a pensar sobre o que poderia ser feito para melhorar aquela selva decrépita, de modo a que diversas espécies de animais não a abandonassem. Resolveu, então, pedir conselho ao animal mais sábio de toda a floresta - o mocho. Ora, a sapiência do mocho só era comparável à sua gula, aliás inversamente proporcional ao seu espírito predador. Assim, o mocho aconselhou o leão a entabular conversações com o castor. O castor, animal de aspecto gorduroso e desgrenhado, era, por aqueles sítios, o bicho mais empreendedor, tendo criado com outros castores de selvas limítrofes um acordo relativo à construção de diques, controlando, deste modo, o curso do grande rio. Atento e informado, sempre que algum animal, vítima incauta do seu predador ficava incapacitado nas artes de caça ou da pesca, oferecia-se para ficar com o seu território por truta e meia. Propôs pois ao Rei Leão que este o deixasse construir canais para esses vastos territórios que havia adquirido, de modo a que os bichos em debandada tivessem acesso aos benefícios do rio, comprometendo-se, em troca, a construir ninhos e tocas. Aceitou o leão de bom grado, regozijando-se, discretamente é certo, o anafado mocho, que a seu lado lhe conferia autoridade.
Logo se iniciaram naquela selva pacata, obras para criar os inúmeros canais, ninhos e tocas. Animais de todas as espécies e feitios acorreram àquele lugar, querendo reservar uma toca, um ninho, ou uma simples liana. Começou o castor por pedir dez trutas por cada ninho ou toca, mas vendo a turba que entretanto se tinha aproximado, foi pedindo sucessivamente mais trutas por cada ninho e cada toca, aconselhando os bichos interessados a dirigirem-se ao seu amigo hipopótamo. O amigo hipopótamo era, em toda a selva, o único animal apetrechado para armazenar trutas, pois não só a sua enorme boca lhe permitia apanhar de uma só vez mais trutas que a da maioria dos animais, como também, graças às excelentes relações de amizade que mantinha com o castor, podia escolher as melhores zonas de pescaria no rio.
Faziam filas intermináveis os animais, esperando que o hipopótamo lhes cedesse algumas centenas de trutas, comprometendo-se a devolver-lhe periodicamente um número considerável de trutas, até perfazer o cedido mais umas centenas de trutas. E assim corria, prazenteira, a vida naquela selva. O leão, a princípio contente por ver a sua selva cheia de vida e bulício, tendo-se inclusivamente cercado de uma roda de conselheiros que incluía outros bichos para além do mocho ainda que igualmente indolentes e matreiros, começou a ficar preocupado com as frequentes disputas entre os animais e com a diferença entre os canais acordados e os efectivamente construídos. Consultou então o castor, tendo-lhe este respondido que a lama com que fazia os canais custava cada vez mais trutas, rápido de espírito, propôs de imediato ao leão a feitura de mais cinquenta tocas e cinquenta ninhos, pagando-lhe com algumas dezenas de trutas. Começou o leão por recusar, estabelecendo o limite de vinte e cinco tocas e vinte e cinco ninhos, mais um canal. Respondeu o castor que não, que assim não podia ser e o leão, convencido pelo seu faminto conselho e pressionado pelos animais residentes a construir ele próprio os canais prometidos, aceitou que o castor fizesse quarenta tocas e quarenta ninhos e um pequeno canal. Bem intencionado, o castor prometeu ainda dar uma palavra de abono junto do seu amigo hipopótamo, para que este cedesse ao leão as trutas necessárias para alimentar o seu concelho e construir os canais que o castor, alegadamente não podia fazer.
E assim vivia aquela selva. O castor laborioso continuava a construir e a pedir milhares de trutas por cada abrigo, trutas que os animais não tinham, mas que o hipopótamo cedia a troco de mais trutas ainda, em pagamentos faseados e com o juro de três trutas por cada dez cedidas. O leão, incapaz de controlar a situação, pedia também ele cada vez mais trutas ao hipopótamo, até que, por desígnio da lei natural, morreu.
Em diversas selvas daquele reino, leões chegaram ao trono e em alguns reinos até mesmo leoas, por vezes cheios de ânimo e de vontade em mudar o curso das coisas, mas invariavelmente acabando por se sentar à mesma mesa do rei anterior. Do outro lado da mesa os hipopótamos, os castores e alguns mochos continuavam a ser os mesmos. Cada vez mais anafados, claro!
A minha crónica de hoje é dedicada aos mais novos. A memória das histórias que me contaram na infância ainda hoje me prega um largo sorriso.
Era uma vez um leão num reino em que os animais falavam. O rei da selva, preocupado com o estado deplorável e subdesenvolvido do seu reino e convencido ainda da responsabilidade sobre os restantes bichos que o seu estatuto de soberano lhe exigia, sentou-se na clareira e pôs-se a pensar sobre o que poderia ser feito para melhorar aquela selva decrépita, de modo a que diversas espécies de animais não a abandonassem. Resolveu, então, pedir conselho ao animal mais sábio de toda a floresta - o mocho. Ora, a sapiência do mocho só era comparável à sua gula, aliás inversamente proporcional ao seu espírito predador. Assim, o mocho aconselhou o leão a entabular conversações com o castor. O castor, animal de aspecto gorduroso e desgrenhado, era, por aqueles sítios, o bicho mais empreendedor, tendo criado com outros castores de selvas limítrofes um acordo relativo à construção de diques, controlando, deste modo, o curso do grande rio. Atento e informado, sempre que algum animal, vítima incauta do seu predador ficava incapacitado nas artes de caça ou da pesca, oferecia-se para ficar com o seu território por truta e meia. Propôs pois ao Rei Leão que este o deixasse construir canais para esses vastos territórios que havia adquirido, de modo a que os bichos em debandada tivessem acesso aos benefícios do rio, comprometendo-se, em troca, a construir ninhos e tocas. Aceitou o leão de bom grado, regozijando-se, discretamente é certo, o anafado mocho, que a seu lado lhe conferia autoridade.
Logo se iniciaram naquela selva pacata, obras para criar os inúmeros canais, ninhos e tocas. Animais de todas as espécies e feitios acorreram àquele lugar, querendo reservar uma toca, um ninho, ou uma simples liana. Começou o castor por pedir dez trutas por cada ninho ou toca, mas vendo a turba que entretanto se tinha aproximado, foi pedindo sucessivamente mais trutas por cada ninho e cada toca, aconselhando os bichos interessados a dirigirem-se ao seu amigo hipopótamo. O amigo hipopótamo era, em toda a selva, o único animal apetrechado para armazenar trutas, pois não só a sua enorme boca lhe permitia apanhar de uma só vez mais trutas que a da maioria dos animais, como também, graças às excelentes relações de amizade que mantinha com o castor, podia escolher as melhores zonas de pescaria no rio.
Faziam filas intermináveis os animais, esperando que o hipopótamo lhes cedesse algumas centenas de trutas, comprometendo-se a devolver-lhe periodicamente um número considerável de trutas, até perfazer o cedido mais umas centenas de trutas. E assim corria, prazenteira, a vida naquela selva. O leão, a princípio contente por ver a sua selva cheia de vida e bulício, tendo-se inclusivamente cercado de uma roda de conselheiros que incluía outros bichos para além do mocho ainda que igualmente indolentes e matreiros, começou a ficar preocupado com as frequentes disputas entre os animais e com a diferença entre os canais acordados e os efectivamente construídos. Consultou então o castor, tendo-lhe este respondido que a lama com que fazia os canais custava cada vez mais trutas, rápido de espírito, propôs de imediato ao leão a feitura de mais cinquenta tocas e cinquenta ninhos, pagando-lhe com algumas dezenas de trutas. Começou o leão por recusar, estabelecendo o limite de vinte e cinco tocas e vinte e cinco ninhos, mais um canal. Respondeu o castor que não, que assim não podia ser e o leão, convencido pelo seu faminto conselho e pressionado pelos animais residentes a construir ele próprio os canais prometidos, aceitou que o castor fizesse quarenta tocas e quarenta ninhos e um pequeno canal. Bem intencionado, o castor prometeu ainda dar uma palavra de abono junto do seu amigo hipopótamo, para que este cedesse ao leão as trutas necessárias para alimentar o seu concelho e construir os canais que o castor, alegadamente não podia fazer.
E assim vivia aquela selva. O castor laborioso continuava a construir e a pedir milhares de trutas por cada abrigo, trutas que os animais não tinham, mas que o hipopótamo cedia a troco de mais trutas ainda, em pagamentos faseados e com o juro de três trutas por cada dez cedidas. O leão, incapaz de controlar a situação, pedia também ele cada vez mais trutas ao hipopótamo, até que, por desígnio da lei natural, morreu.
Em diversas selvas daquele reino, leões chegaram ao trono e em alguns reinos até mesmo leoas, por vezes cheios de ânimo e de vontade em mudar o curso das coisas, mas invariavelmente acabando por se sentar à mesma mesa do rei anterior. Do outro lado da mesa os hipopótamos, os castores e alguns mochos continuavam a ser os mesmos. Cada vez mais anafados, claro!
FESTIM DE CANIBAIS
Meus caros leitores
Estou irreversivelmente fora de moda. Enquanto que a maioria de vós se interessa por ciências e actuais, como a informática, eu, espírito empedernido, tenho-me dedicado a assuntos impregnados de bolor e teias de aranha. Mergulho ávido na investigação arqueológica e como não tenho recursos financeiros para me deslocar à Polinésia, faço do meu quintal um pequeno laboratório. Tenho escavado metodicamente, qual condenado que aproveita todos os momentos para abrir o túnel que o conduzirá à liberdade e aguardo ansioso o primeiro vestígio de antigas civilizações, como o prisioneiro aguarda o cheiro do esgoto que o levará à liberdade.
Está pois o meu quintal transformado numa rede de túneis e buracos, o que tem agradado de sobremaneira aos cães da vizinhança, que voluntariamente me vêm ajudar na empresa, transformando-o numa espécie de Colombo da bicharada. Os meus vizinhos, mesmo desconfiando da minha excentricidade, estão-me agradecidos, pois podem ocupar o seu tempo com coisas mais importantes que passear os seus cães. E eu fico contente e num exercício que roça a esquizofrenia, imagino que aqueles caniches e perdigueiros são jovens e barbudos investigadores que fazem parte da minha imaginária equipa.
À força de tanto escavar e esgravatar, descobri vestígios de uma civilização que faz de Viriato um primo que faleceu ontem. Determinei chamar-se essa civilização Asnónia. e curiosamente apurei também que ocupava o extremo da Península Ibérica.
Eram os asnónios um povo peculiar. Indolentes e acabrunhados, tinham, com o decorrer dos tempos esquecido as artes de amanhar os campos. Como em qualquer sociedade, um grupo restrito de asnónios detinha o poder de executar as deliberações de toda a comunidade, mas a indolência de todos levou a que passassem não só a executar, como a deliberar. A cada vez maior escassez de recursos levou à instituição do canibalismo como a única solução para a sobrevivência da espécie, legitimando esta escolha com o argumento da eugenia da raça, já que os menos aptos, os mais obesos e trôpegos seriam os primeiros a serem devorados.
E assim sucedeu. Organizaram-se caçadas com pompa e circunstância, onde os mais rápidos trucidavam os mais lentos, para entregaram a sua carne aos mais sábios que assistiam, quase cândidos, do alto de promontórios. À medida que a caça se intensificava, novas técnicas foram desenvolvidas, permitindo a morte das presas com o mínimo dano para a sua suculenta carne. Chegou o momento em que pela ausência de presas os caçadores se caçaram a eles mesmos.
Apenas restavam os sábios. E aplicando o mesmo princípio, os mais aptos foram ludibriando os menos aptos, sobrando finalmente apenas um, espécie de iluminado, de criatura reunindo todos os requisitos da perfeição. Tinha apenas um defeito. Estava vivo e consequentemente precisava de se alimentar. Posto perante este dilema decidiu Eugénio (era esse o seu nome) comer-se a si mesmo, empregando toda a sua sabedoria na realização desse objectivo. Preparou cuidadosamente unguentos que lhe permitissem sarar as feridas decorrentes da auto-mutilação. Começou então por comer os dedos dos seus próprios pés, os seus olhos, pois nada no mundo ao seu redor lhe interessava ver e o tacto bastava para se consumir. Comeu as suas pernas, pois não precisava de se deslocar neste estado de auto-suficiência e assim foi avançando, até ser apenas uma língua, um esófago e um estômago em cima de uma cama feita com os seus ossos e morreu no momento em que engoliu o seu próprio coração. Assim terminou a civilização dos asnónios.
Confesso que estas descobertas me deixaram meio angustiado e apenas a inocente certeza de que nós, actuais habitantes do mesmo espaço geográfico, nada temos em comum com os asnónios, me devolveu o ânimo e a confiança.
Meus caros leitores
Estou irreversivelmente fora de moda. Enquanto que a maioria de vós se interessa por ciências e actuais, como a informática, eu, espírito empedernido, tenho-me dedicado a assuntos impregnados de bolor e teias de aranha. Mergulho ávido na investigação arqueológica e como não tenho recursos financeiros para me deslocar à Polinésia, faço do meu quintal um pequeno laboratório. Tenho escavado metodicamente, qual condenado que aproveita todos os momentos para abrir o túnel que o conduzirá à liberdade e aguardo ansioso o primeiro vestígio de antigas civilizações, como o prisioneiro aguarda o cheiro do esgoto que o levará à liberdade.
Está pois o meu quintal transformado numa rede de túneis e buracos, o que tem agradado de sobremaneira aos cães da vizinhança, que voluntariamente me vêm ajudar na empresa, transformando-o numa espécie de Colombo da bicharada. Os meus vizinhos, mesmo desconfiando da minha excentricidade, estão-me agradecidos, pois podem ocupar o seu tempo com coisas mais importantes que passear os seus cães. E eu fico contente e num exercício que roça a esquizofrenia, imagino que aqueles caniches e perdigueiros são jovens e barbudos investigadores que fazem parte da minha imaginária equipa.
À força de tanto escavar e esgravatar, descobri vestígios de uma civilização que faz de Viriato um primo que faleceu ontem. Determinei chamar-se essa civilização Asnónia. e curiosamente apurei também que ocupava o extremo da Península Ibérica.
Eram os asnónios um povo peculiar. Indolentes e acabrunhados, tinham, com o decorrer dos tempos esquecido as artes de amanhar os campos. Como em qualquer sociedade, um grupo restrito de asnónios detinha o poder de executar as deliberações de toda a comunidade, mas a indolência de todos levou a que passassem não só a executar, como a deliberar. A cada vez maior escassez de recursos levou à instituição do canibalismo como a única solução para a sobrevivência da espécie, legitimando esta escolha com o argumento da eugenia da raça, já que os menos aptos, os mais obesos e trôpegos seriam os primeiros a serem devorados.
E assim sucedeu. Organizaram-se caçadas com pompa e circunstância, onde os mais rápidos trucidavam os mais lentos, para entregaram a sua carne aos mais sábios que assistiam, quase cândidos, do alto de promontórios. À medida que a caça se intensificava, novas técnicas foram desenvolvidas, permitindo a morte das presas com o mínimo dano para a sua suculenta carne. Chegou o momento em que pela ausência de presas os caçadores se caçaram a eles mesmos.
Apenas restavam os sábios. E aplicando o mesmo princípio, os mais aptos foram ludibriando os menos aptos, sobrando finalmente apenas um, espécie de iluminado, de criatura reunindo todos os requisitos da perfeição. Tinha apenas um defeito. Estava vivo e consequentemente precisava de se alimentar. Posto perante este dilema decidiu Eugénio (era esse o seu nome) comer-se a si mesmo, empregando toda a sua sabedoria na realização desse objectivo. Preparou cuidadosamente unguentos que lhe permitissem sarar as feridas decorrentes da auto-mutilação. Começou então por comer os dedos dos seus próprios pés, os seus olhos, pois nada no mundo ao seu redor lhe interessava ver e o tacto bastava para se consumir. Comeu as suas pernas, pois não precisava de se deslocar neste estado de auto-suficiência e assim foi avançando, até ser apenas uma língua, um esófago e um estômago em cima de uma cama feita com os seus ossos e morreu no momento em que engoliu o seu próprio coração. Assim terminou a civilização dos asnónios.
Confesso que estas descobertas me deixaram meio angustiado e apenas a inocente certeza de que nós, actuais habitantes do mesmo espaço geográfico, nada temos em comum com os asnónios, me devolveu o ânimo e a confiança.
UM GRANDE FURO
Meus caros leitores, tenho uma confissão a fazer: sou agnóstico. Para ser absolutamente preciso, não acredito em nenhuma das divindades que até agora me foram apresentadas, mas não fecho a porta a posteriores revisões nesta matéria, até porque esta minha incipiente tentativa de jornalismo tem sido até agora bafejada, pela sorte. Tal sorte propiciou-me o objecto desta crónica. Estava eu em alegre passeata por esse magnífico exemplar do arrojo urbanístico, da “avant-garde” em conceptualismo paisagista chamado Jardim Municipal da Quinta da Piedade, quando reencontrei um velho amigo de infância. Depois das efusivas celebrações, explicou-me que tinha emigrado para América (apaziguando de vez o remorso que eu senti durante mais de 20 anos, pois julgava-o ainda de castigo, depois de ter entrado em grande velocidade pelo posto do leite, em cima de um carrinho de rolamentos especialmente preparado por mim, provocando grandes estragos) onde conseguira especializar-se em informática. Trabalha actualmente na Microsoft e trata o Bill Gates por tu. Disse-me então que estava de volta à sua terra de origem para se inspirar na feitura de um novo jogo de computador. Senti-me orgulhoso, quase pairando de tanto ar inspirado. A minha terra objecto de um jogo de computador!
Passados alguns meses recebi pelo correio o cd com o jogo, que gentileza a sua. E é mesmo desse jogo, que promete dar ainda muito pano para mangas, de que vos gostava de falar. O jogo chama-se Póvoa Wreck I. Que excitação! Rasguei o invólucro e enfiei o cd na drive. Abriu-se-me então um vasto leque de opções.
Em primeiro lugar, era necessário escolher o tipo de veículo. A opção era entre um pequeno automóvel, de vidros fumados e escape gigantesco, com um relâmpago desenhado no capot e um enorme jeep de tracção às quatro rodas. Se escolhêssemos o primeiro, o nosso alter ego virtual seria Hillbilly Joe, que traduzo livremente por Zé Parolo. Se a nossa escolha recaísse sobre o segundo, encontraríamos como condutor um tipo anafado, de meia-idade, chamado Supposed Yuppie, isto é, julgo eu, o Executivo da Tanga.
Cabe-nos depois a selecção do circuito. Temos várias hipóteses. A primeira é a Vicente Valent’s Circus e corresponde à avenida circular da Quinta da Piedade. Temos também a National Road, correspondente à EN10. Mas o melhor mesmo é o Up and down in the town, isto é andar às voltas.
Vamos então começar...com um arranque barulhento. Aqui vou eu a acelerar, avenida acima.
Instruções (botão F1):
Acertar num cão, 10 pontos.
Acertar num peão, 20 pontos.
Acertar num peão em cima de uma passadeira, 50 pontos.
Ena, grande pinta!
Pedem-nos, neste momento, que seleccionemos a música de fundo. Bem alta, claro!
Vou dar uma voltinha a uma das pracetas. Estaciono o carro bem no meio da praceta e carrego no botão fire in the house. Um prédio está a arder e aí vêm os bombeiros. Deixa-me cá estacionar bem o carro senão os bombeiros ainda conseguem entrar na praceta. Já está! Que grande confusão! Os bombeiros bem tentam mas não conseguem entrar. Vou-me embora ou ainda se lança mais alguém pela janela
Entro na Estrada Nacional e aqui sim, dá para carregar no pedal a valer! Já marca 100 km/h! ADRENALINA!!!!! Mais um cheirinho e conseguia apanhar o velhote. Fica para a próxima. Afinal é a primeira vez que estou a jogar.
Vou até perto da estação de comboios. Aqui é que é giro! O autocarro da rodoviária cheio de pessoal e eu estacionado mesmo no meio da rua. Este jogo está mesmo bem concebido! Até dá para ver a cara pesarosa dos utilizadores do autocarro! Vamos seguir. Aí vai um pacóvio de bicicleta...só um susto, para o abanar e aprender que a rua é para os carros. Já está! Prego a fundo avenida acima, na esperança que algum transeunte apareça por detrás dos inúmeros camiões estacionados. Nada. Ora bolas!
Vou até ao café beber umas imperiais. Paro a máquina à porta do café e meto o som no máximo. ‘Tá-se bem... Só preciso chamar um amigo para jogarmos na versão Two Players, quer dizer, ao despique. Aí é que vai ser mesmo louco, a ver quem comete mais infracções e quem consegue assustar mais pessoas. Um traumatismo craniano vale 100 pontos!
O jogo está de facto magnífico, embora pouco realista, já que é por demais conhecido o bom senso dos portugueses ao volante. Ninguém podia ser tão obtuso, mas, sabem como é, para vender é preciso dourar a pílula. É óptimo para descontrair, depois de um dia a trabalhar e de horas perdidas no trânsito.
Se quiserem experimentar o jogo é só enviarem o vosso pedido para tiagomascarenhas@vizzavi.pt, e eu envio-vos o sítio onde podem fazer o download da demo em versão shareware, claro.
Meus caros leitores, tenho uma confissão a fazer: sou agnóstico. Para ser absolutamente preciso, não acredito em nenhuma das divindades que até agora me foram apresentadas, mas não fecho a porta a posteriores revisões nesta matéria, até porque esta minha incipiente tentativa de jornalismo tem sido até agora bafejada, pela sorte. Tal sorte propiciou-me o objecto desta crónica. Estava eu em alegre passeata por esse magnífico exemplar do arrojo urbanístico, da “avant-garde” em conceptualismo paisagista chamado Jardim Municipal da Quinta da Piedade, quando reencontrei um velho amigo de infância. Depois das efusivas celebrações, explicou-me que tinha emigrado para América (apaziguando de vez o remorso que eu senti durante mais de 20 anos, pois julgava-o ainda de castigo, depois de ter entrado em grande velocidade pelo posto do leite, em cima de um carrinho de rolamentos especialmente preparado por mim, provocando grandes estragos) onde conseguira especializar-se em informática. Trabalha actualmente na Microsoft e trata o Bill Gates por tu. Disse-me então que estava de volta à sua terra de origem para se inspirar na feitura de um novo jogo de computador. Senti-me orgulhoso, quase pairando de tanto ar inspirado. A minha terra objecto de um jogo de computador!
Passados alguns meses recebi pelo correio o cd com o jogo, que gentileza a sua. E é mesmo desse jogo, que promete dar ainda muito pano para mangas, de que vos gostava de falar. O jogo chama-se Póvoa Wreck I. Que excitação! Rasguei o invólucro e enfiei o cd na drive. Abriu-se-me então um vasto leque de opções.
Em primeiro lugar, era necessário escolher o tipo de veículo. A opção era entre um pequeno automóvel, de vidros fumados e escape gigantesco, com um relâmpago desenhado no capot e um enorme jeep de tracção às quatro rodas. Se escolhêssemos o primeiro, o nosso alter ego virtual seria Hillbilly Joe, que traduzo livremente por Zé Parolo. Se a nossa escolha recaísse sobre o segundo, encontraríamos como condutor um tipo anafado, de meia-idade, chamado Supposed Yuppie, isto é, julgo eu, o Executivo da Tanga.
Cabe-nos depois a selecção do circuito. Temos várias hipóteses. A primeira é a Vicente Valent’s Circus e corresponde à avenida circular da Quinta da Piedade. Temos também a National Road, correspondente à EN10. Mas o melhor mesmo é o Up and down in the town, isto é andar às voltas.
Vamos então começar...com um arranque barulhento. Aqui vou eu a acelerar, avenida acima.
Instruções (botão F1):
Acertar num cão, 10 pontos.
Acertar num peão, 20 pontos.
Acertar num peão em cima de uma passadeira, 50 pontos.
Ena, grande pinta!
Pedem-nos, neste momento, que seleccionemos a música de fundo. Bem alta, claro!
Vou dar uma voltinha a uma das pracetas. Estaciono o carro bem no meio da praceta e carrego no botão fire in the house. Um prédio está a arder e aí vêm os bombeiros. Deixa-me cá estacionar bem o carro senão os bombeiros ainda conseguem entrar na praceta. Já está! Que grande confusão! Os bombeiros bem tentam mas não conseguem entrar. Vou-me embora ou ainda se lança mais alguém pela janela
Entro na Estrada Nacional e aqui sim, dá para carregar no pedal a valer! Já marca 100 km/h! ADRENALINA!!!!! Mais um cheirinho e conseguia apanhar o velhote. Fica para a próxima. Afinal é a primeira vez que estou a jogar.
Vou até perto da estação de comboios. Aqui é que é giro! O autocarro da rodoviária cheio de pessoal e eu estacionado mesmo no meio da rua. Este jogo está mesmo bem concebido! Até dá para ver a cara pesarosa dos utilizadores do autocarro! Vamos seguir. Aí vai um pacóvio de bicicleta...só um susto, para o abanar e aprender que a rua é para os carros. Já está! Prego a fundo avenida acima, na esperança que algum transeunte apareça por detrás dos inúmeros camiões estacionados. Nada. Ora bolas!
Vou até ao café beber umas imperiais. Paro a máquina à porta do café e meto o som no máximo. ‘Tá-se bem... Só preciso chamar um amigo para jogarmos na versão Two Players, quer dizer, ao despique. Aí é que vai ser mesmo louco, a ver quem comete mais infracções e quem consegue assustar mais pessoas. Um traumatismo craniano vale 100 pontos!
O jogo está de facto magnífico, embora pouco realista, já que é por demais conhecido o bom senso dos portugueses ao volante. Ninguém podia ser tão obtuso, mas, sabem como é, para vender é preciso dourar a pílula. É óptimo para descontrair, depois de um dia a trabalhar e de horas perdidas no trânsito.
Se quiserem experimentar o jogo é só enviarem o vosso pedido para tiagomascarenhas@vizzavi.pt, e eu envio-vos o sítio onde podem fazer o download da demo em versão shareware, claro.
O MECENAS
Meus caros leitores, venho hoje revelar-vos que, além de funcionário público, sou estudante de Direito. Na prática, sou um M&M amargo. Já não me bastava ser Mandrião, como ainda me candidato a Malandro. O curso de Direito é em grande parte constituído por cadeiras onde os alunos procuram resolver casos práticos, isto é, ficções que pretendem retratar o mais fielmente possível a realidade. É um desses casos práticos que trago hoje ao vosso conhecimento.
António, jovem empresário da construção civil, resolve doar 500 contos a uma instituição particular de solidariedade social, ao abrigo da lei do mecenato, por acaso dirigida por Bento, seu amigo de longa data. Na realidade António não doou nada, pois Bento é dono de uma empresa de importação, e passou uma factura que refere que a venda foi constituída por vários milhares de fraldas, produto descartável, como convém. António fica com 250 contos, Bento com igual montante. Aproveitando uma singela homenagem ao benfeitor António, pela sua doação filantrópica, Bento reclama da autarquia local a construção de um novo equipamento para a IPSS que abnegadamente dirige. David, presidente da autarquia acede na construção e sendo um homem moderno e de vistas largas, candidata esse projecto a fundos comunitários. António ganha evidentemente a empreitada e compromete-se a construir o equipamento por 100.000 contos. Aliás António ganhou nos últimos tempos várias empreitadas na região. Consegue assim reduzir os custos unitários e constrói o equipamento por 60.000 contos, mas em nome do rigor das finanças públicas apresenta uma conta final de 100.000, o valor orçamentado. Acrescenta apenas 10.000 contos porque a empresa que projectou a obra (por acaso pertencente a um cunhado seu) não avaliou devidamente os custos e porque sempre gostou de números redondos e assim lucra 50.000 contos. Feitas as contas, António teve um lucro de 250.000 contos, pois tinha mais 4 obras na zona. Sabe entretanto de um terreno pertencente a uma família com falta de liquidez e apresenta o projecto a David, falando com o gerente do banco local, pedindo um financiamento para a construção de uma urbanização, aproveitando também para abrir uma conta nas ilhas Caimão, onde coloca os 250.000 contos que ganhou anteriormente. Posto perante algumas vozes discordantes do seu projecto, António rapidamente chegou à conclusão que se ele, homem simples e terra-a-terra, achava o empreendimento interessante, mais o achariam os cultos e esclarecidos que o contestavam, pois podiam observá-lo à luz da estética e da sua qualidade arquitectónica. Descobriu que esses homens iluminados, que passavam horas a projectar o mundo, quando regressavam ao mundo dos vivos, vinham desejosos de materialidade, por assim dizer. Nada que uns belos T5 na cobertura das mais altas torres não saciassem. Erigia-se assim a Urbanização. António factura 5 milhões de contos e não querendo deixar os seus créditos por mãos alheias, cria um conjunto de empresas para prestarem os serviços urbanos (recolha de lixo, jardinagem etc.) na sua urbanização. Por especial atenção ao seu amigo Presidente David faz um preço ?em conta? e aproveita os funcionários a contrato que David foi obrigado a despedir em nome da contenção de despesas. Todos lucram: lucra David que diminui as despesas com pessoal, sendo por isso elogiado até pela oposição e lucra António que aproveita o conhecimento que os trabalhadores adquiriram, até porque como ele bem sabe, pois também possui uma empresa especializada em formação profissional, dirigida pela sua mulher, a formação, além de cara é, na maior parte das vezes uma fraude. Bem, na verdade as despesas com pessoal diminuíram 50.000 contos no orçamento da autarquia e só o contrato de concessão que António assinou com David custa aos cofres públicos 250.000 notas por ano. Mas são um investimento, claro. António, católico por formação, jura a si mesmo que assim que não estiver atarefado a constituir uma nova empresa de prestação de serviços ou a projectar uma moderna urbanização, vai visitar as ilhas Caimão.
António, jovem empresário da construção civil, resolve doar 500 contos a uma instituição particular de solidariedade social, ao abrigo da lei do mecenato, por acaso dirigida por Bento, seu amigo de longa data. Na realidade António não doou nada, pois Bento é dono de uma empresa de importação, e passou uma factura que refere que a venda foi constituída por vários milhares de fraldas, produto descartável, como convém. António fica com 250 contos, Bento com igual montante. Aproveitando uma singela homenagem ao benfeitor António, pela sua doação filantrópica, Bento reclama da autarquia local a construção de um novo equipamento para a IPSS que abnegadamente dirige. David, presidente da autarquia acede na construção e sendo um homem moderno e de vistas largas, candidata esse projecto a fundos comunitários. António ganha evidentemente a empreitada e compromete-se a construir o equipamento por 100.000 contos. Aliás António ganhou nos últimos tempos várias empreitadas na região. Consegue assim reduzir os custos unitários e constrói o equipamento por 60.000 contos, mas em nome do rigor das finanças públicas apresenta uma conta final de 100.000, o valor orçamentado. Acrescenta apenas 10.000 contos porque a empresa que projectou a obra (por acaso pertencente a um cunhado seu) não avaliou devidamente os custos e porque sempre gostou de números redondos e assim lucra 50.000 contos. Feitas as contas, António teve um lucro de 250.000 contos, pois tinha mais 4 obras na zona. Sabe entretanto de um terreno pertencente a uma família com falta de liquidez e apresenta o projecto a David, falando com o gerente do banco local, pedindo um financiamento para a construção de uma urbanização, aproveitando também para abrir uma conta nas ilhas Caimão, onde coloca os 250.000 contos que ganhou anteriormente. Posto perante algumas vozes discordantes do seu projecto, António rapidamente chegou à conclusão que se ele, homem simples e terra-a-terra, achava o empreendimento interessante, mais o achariam os cultos e esclarecidos que o contestavam, pois podiam observá-lo à luz da estética e da sua qualidade arquitectónica. Descobriu que esses homens iluminados, que passavam horas a projectar o mundo, quando regressavam ao mundo dos vivos, vinham desejosos de materialidade, por assim dizer. Nada que uns belos T5 na cobertura das mais altas torres não saciassem. Erigia-se assim a Urbanização. António factura 5 milhões de contos e não querendo deixar os seus créditos por mãos alheias, cria um conjunto de empresas para prestarem os serviços urbanos (recolha de lixo, jardinagem etc.) na sua urbanização. Por especial atenção ao seu amigo Presidente David faz um preço ?em conta? e aproveita os funcionários a contrato que David foi obrigado a despedir em nome da contenção de despesas. Todos lucram: lucra David que diminui as despesas com pessoal, sendo por isso elogiado até pela oposição e lucra António que aproveita o conhecimento que os trabalhadores adquiriram, até porque como ele bem sabe, pois também possui uma empresa especializada em formação profissional, dirigida pela sua mulher, a formação, além de cara é, na maior parte das vezes uma fraude. Bem, na verdade as despesas com pessoal diminuíram 50.000 contos no orçamento da autarquia e só o contrato de concessão que António assinou com David custa aos cofres públicos 250.000 notas por ano. Mas são um investimento, claro. António, católico por formação, jura a si mesmo que assim que não estiver atarefado a constituir uma nova empresa de prestação de serviços ou a projectar uma moderna urbanização, vai visitar as ilhas Caimão.
O BOM SAMARITANO
A vida moderna tem destas coisas: metem-nos em caixotes e obrigam-nos a falar com os vizinhos. Criou-se essa figura sinistra conhecida por assembleia de condóminos.
Encontro-me em conflito com um vizinho, um tipo execrável, o Rashid, que bate na mulher. Pior ainda, fui eu que apresentei o tipo à mulher, pois pareceu-me, na altura, o indivíduo certo e antes que um outro vizinho se insinuasse, resolvi propiciar o romance. A Munira (é esse o nome da ofendida) tem uma bela vinha e com o casamento juntei o útil ao agradável: tinha um tipo de confiança para controlá-la e bebia o vinho à borla. Esta prática é aliás corrente no prédio. O Pierre, por exemplo, vizinho do 4ª esquerdo, de vez em quando expulsa o marido da jovem negra que assegura a higiene do prédio, aproveitando para passar lá umas noites e deliciar-se com os acepipes que ela tem no frigorífico. Um ?bom vivant?!. Já o John, vizinho do 5º direito, incapaz de se manter amantizado com metade do prédio, resolveu recolher ao seu apartamento e passa o tempo a cravar-me vinho, azeite e senhas de gasolina.
Propus na assembleia de condóminos que o Rashid fosse expulso, alegando a inadmissibilidade da violência doméstica nos tempos que correm. Na verdade pouco me importa se a Munira é agredida ou não. Sou um fervoroso defensor do principio ?entre marido e mulher, não metas a colher?. Estou é farto de acompanhar as minhas refeições com coca-cola. Quero o vinho! Além do mais estou convencido que mais vale um marido que saiba manter o respeito que outro que permita que a sua mulher faça o que bem entender. E nesta perspectiva mantenho com alguns maridos truculentos uma boa relação de vizinhança. Podem bater na mulher, mas só na medida do necessário e mediante uma pequena comparticipação em géneros para a minha dispensa, para que eu possa verificar se os fins justificam os meios.
Já avisei os restantes condóminos: qualquer dia farto-me de beber coca-cola e entro pela casa a dentro da Munira, dou uma carga de porrada no Rashid, corro com ele, coloco no seu lugar o Mohamed, um empregado meu de confiança, mas o vinho fica só para mim!
O BISNAU
Tenho a certeza que mesmo os meus leitores menos atentos já ouviram falar daquele género de criaturas que, nunca se conhecendo verdadeiramente a sua natureza, nem existindo provas cientificamente irrefutáveis da sua existência, se suspeita serem tão reais como nós. Enquadram-se nessa categoria o Abominável Homem das Neves ou o Monstro do Loch Ness.
Pois bem, sei de fonte segura que as autoridades locais suspeitam da existência de um tal ser aqui, no nosso burgo. Embora de forma cautelosa e sem nunca o admitirem, peritos andam já no terreno, procurando pistas que levem à identificação de tal alimária.
Essa task-force baptizou, provisoriamente, o animal como Bisnau e já identificou o seu modus operandi: pela calada da noite, esgueira-se por entre os automóveis estacionados e presume-se que trepa os prédios. E digo presume-se porque nunca ninguém viu tal acção, mas diversos relatos apontam para a identificação do bisnau refugiado por detrás das janelas que os incautos deixam abertas, perpetrando o acto que levou à suspeita da sua existência: o lançamento de sacos do lixo e de objectos na via pública. Está assim explicado, pelo menos em parte, o quadro matinal com que somos brindados, feito de sacos de lixo obesos e outras coisas que a linguagem vernácula tão bem caracteriza, esparramados nos jardins fronteiros aos prédios, quais turistas suecos aguardando imóveis as escassas horas de Sol num qualquer relvado de Gotemburgo. Os testemunhos afirmam que o estranho ser é antropomórfico e provavelmente humanóide, sendo possível vislumbrar os seus membros superiores que num movimento rápido, lançam, por vezes a distâncias consideráveis, caroços de fruta, embalagens de iogurte, pacotes de leite, enfim, um sem número de objectos que nós, humanos, arrumamos sumariamente na categoria de lixo. Alguns bisnaus parecem dispor de um dispositivo natural que emite uma intermitente luz vermelha, mais ou menos no sítio onde nós temos a boca. Os investigadores aventam a hipótese de se tratar de um rudimentar sistema de comunicação, pois por vezes lançam essas pequenas luzes em conjunto com os detritos. Chegou-se entretanto a um impasse: ou o animal é muito rápido ou reproduz-se muito. Como as quantidades de lixo deixadas no meio da rua continuam a aumentar, alguns cientistas defendem que se trata de um só animal, que à medida que se vai adaptando ao meio ambiente, vai ficando mais rápido, entrando em cada vez mais janelas abertas. Um outro grupo justifica tal aumento com o crescente número de bisnaus. Matéria que suscita maior consenso é a da necessidade de cautelosamente se alertar a população da existência destas criaturas noctívagas. Brevemente será tornado público um comunicado onde se solicita à população que feche bem as janelas no período nocturno e que não deixe o seu lixo indevidamente acondicionado.
Como em tudo na vida, também entre estes reputados cientistas existe um grupo, minoritário, claro, de cépticos, que refuta a existência do Bisnau. Segundo a sua perspectiva, incongruente aliás, os sacos do lixo e outros detritos, são lançados nas ruas e nas zonas verdes pelos próprios moradores, ao abrigo da noite. Esta teoria não tem qualquer fundamentação e esfuma-se no postulado da racionalidade humana. Parece-me claro que este tipo de acção é característica de seres irracionais, de bestas, não sendo possível, portanto, numa sociedade humana.
Estou certo que mais cedo ou mais tarde as autoridades vão capturar um bisnau vivo ou morto e acabar de vez com a sua acção malévola.
comente -->
OS ÓRFÃOS DO MURO
Certamente que a maioria dos meus leitores formaram a sua ideia do mundo com base numa escolha quase inevitável. O muro condicionou o pensamento e as ideias de toda a gente. Mesmo aqueles que nunca se sentiram particularmente inclinados para nenhum dos lados, tiveram que optar por um ou outro lado. Quando se diz do lado de cá do muro é apenas uma questão de perspectiva. O espectro das cores das coisas que nos fascinam foi diminuindo à medida que o muro foi crescendo, como que tapando o Sol. E assim, aqueles que viam o mundo em tons de amarelo, de rosa ou de castanho, passaram a vê-lo ou preto ou branco. Gerações foram condicionadas por esta perspectiva, fundamentaram a sua existência nestes princípios. E à medida que as posições se extremavam, mesmo aqueles que não se reviam rigorosamente em nenhum dos lados do muro foram obrigados a fazer uma escolha. O muro caiu, entretanto. Seria plausível que no lado que mais lutou para que o muro permanecesse surgissem hordas de órfãos confusos perante o Sol sem peneira. E assim sucedeu. Mais curioso e cruel foi terem surgido igualmente muitos órfãos do lado de cá (na minha perspectiva). Precisamente aqueles que mais se bateram para a queda do muro eram agora os mais confusos. Sem muro, sem contra-poder, todos os fundamentos das suas criações intelectuais ruíram, com o muro. Tinham sido ensinados a pensar sempre da mesma maneira, no pressuposto do inimigo, num espírito absolutamente maniqueísta e sentiam-se agora igualmente órfãos, como os órfãos do outro lado.
O PARADOXO
Imagine o leitor uma comunidade constituída por 100 pessoas.
Em média, um habitante dessa comunidade gasta 50% do fruto da sua actividade em alimentação, 30% na fortificação da aldeia e 20% na sua habitação.
Acontece que na aldeia vizinha gastam 40% na fortificação e só 40% na alimentação. A ?nossa? aldeia, após um grande esforço, passa a gastar 50% em fortificação e em meios de ataque e acaba por derrotar a aldeia vizinha. Depois do furor bélico vem o amor carnal e como resultado a aldeia passa a ser habitada, em poucos anos, por 200 almas.
Decide-se então dividir a aldeia e os mais dotados nas artes da guerra deixam de ser agricultores, assim como os mais temerosos passam a dedicar-se exclusivamente ao cultivo e à pastorícia. Entretanto, a aldeia vizinha, ciente da sua inferioridade militar, concentra-se na produção alimentar. Logo aparece com produtos com menor custo e em maior quantidade, trocando alimentos por armas. A nossa aldeia, não querendo perder a sua independência, procura desesperadamente produzir os seus alimentos ainda mais baratos.
Passaram-se muitos, muitos anos, as aldeias expandiram-se, tornaram-se cidades, nações. Sucessivas vagas de guerra e amor passaram.
A necessidade de produzir mais com menos custos foi crescendo. Hordas de sábios e cientistas estudaram até à exaustão cada fruto e cada animal até os reduzirem a um agregado de fórmulas bioquímicas manipuláveis.
E de facto, hoje e em média, um habitante da aldeia global só gasta 20% do seu rendimento em alimentação. Eis o triunfo.
É verdade que gasta outros 20% do seu rendimento em comprimidos para combater a obesidade provocada pela alimentação, mais 10% em ginásios para ?manter a forma? afectada pela má alimentação e que contribui com outros 10% para que o Estado construa hospitais, que se enchem de pessoas enfermas de se alimentarem erradamente.
Dirá o leitor mais atento que o homem médio gasta hoje 60% do seu rendimento em alimentação ou por causa dela, ou seja ainda mais que o aldeão do início. Pois lamento informá-lo, mas está errado. Como diria K. Popper, ?o conhecimento é adquirido por tentativa e erro?. Por isso, quando estiver frente a uma realidade rotulada de enchido, que sabe a enchido, tem a forma de enchido e cheira a enchido, mas que de facto é um chouriço cibernético ou uma morcela andróide, lembre-se da teoria do conhecimento de Popper. E em caso de erro, tenha uma pastilha digestiva à mão. Se observar bem os rótulos, verá que tanto a morcela como a pastilha provêm da mesma unidade industrial, embora de secções diferentes, claro. E não se preocupe com nitrofuranos, queijo de Nisa made in Taiwan ou sopas feitas de estrume (lembre-se da velha máxima que diz que na natureza, e na empresa, acrescento eu, nada se cria, tudo se transforma).
Em média, um habitante dessa comunidade gasta 50% do fruto da sua actividade em alimentação, 30% na fortificação da aldeia e 20% na sua habitação.
Acontece que na aldeia vizinha gastam 40% na fortificação e só 40% na alimentação. A ?nossa? aldeia, após um grande esforço, passa a gastar 50% em fortificação e em meios de ataque e acaba por derrotar a aldeia vizinha. Depois do furor bélico vem o amor carnal e como resultado a aldeia passa a ser habitada, em poucos anos, por 200 almas.
Decide-se então dividir a aldeia e os mais dotados nas artes da guerra deixam de ser agricultores, assim como os mais temerosos passam a dedicar-se exclusivamente ao cultivo e à pastorícia. Entretanto, a aldeia vizinha, ciente da sua inferioridade militar, concentra-se na produção alimentar. Logo aparece com produtos com menor custo e em maior quantidade, trocando alimentos por armas. A nossa aldeia, não querendo perder a sua independência, procura desesperadamente produzir os seus alimentos ainda mais baratos.
Passaram-se muitos, muitos anos, as aldeias expandiram-se, tornaram-se cidades, nações. Sucessivas vagas de guerra e amor passaram.
A necessidade de produzir mais com menos custos foi crescendo. Hordas de sábios e cientistas estudaram até à exaustão cada fruto e cada animal até os reduzirem a um agregado de fórmulas bioquímicas manipuláveis.
E de facto, hoje e em média, um habitante da aldeia global só gasta 20% do seu rendimento em alimentação. Eis o triunfo.
É verdade que gasta outros 20% do seu rendimento em comprimidos para combater a obesidade provocada pela alimentação, mais 10% em ginásios para ?manter a forma? afectada pela má alimentação e que contribui com outros 10% para que o Estado construa hospitais, que se enchem de pessoas enfermas de se alimentarem erradamente.
Dirá o leitor mais atento que o homem médio gasta hoje 60% do seu rendimento em alimentação ou por causa dela, ou seja ainda mais que o aldeão do início. Pois lamento informá-lo, mas está errado. Como diria K. Popper, ?o conhecimento é adquirido por tentativa e erro?. Por isso, quando estiver frente a uma realidade rotulada de enchido, que sabe a enchido, tem a forma de enchido e cheira a enchido, mas que de facto é um chouriço cibernético ou uma morcela andróide, lembre-se da teoria do conhecimento de Popper. E em caso de erro, tenha uma pastilha digestiva à mão. Se observar bem os rótulos, verá que tanto a morcela como a pastilha provêm da mesma unidade industrial, embora de secções diferentes, claro. E não se preocupe com nitrofuranos, queijo de Nisa made in Taiwan ou sopas feitas de estrume (lembre-se da velha máxima que diz que na natureza, e na empresa, acrescento eu, nada se cria, tudo se transforma).
O BOATO
Ao longo das crónicas que quinzenalmente são publicadas, acredito que os meus leitores tenham muitas vezes suspeitado da verosimilhança das minhas histórias. Pois bem, a seguinte história não só é verosímil, como verídica.
Nado e criado na Póvoa, o meu quotidiano infantil era circunscrito ao Largo da Praça, com esporádicas incursões aos bairros ?inimigos?: As Escadinhas, o Alto, o Cinema ou a Rua A. Nas tardes em que não havia nenhuma jogatana ou incursão bélica em território inimigo, ficava-me pela Praça. Uma das minhas actividades preferidas era a de atirar diversos objectos aos homens que, no intervalo do dominó, se punham a apanhar Sol em frente à sede da bola. Colocado estrategicamente por detrás do muro do quintal do meu avô, aproveitava o ângulo favorável para bombardear o inimigo sem que ele soubesse de onde vinha o ataque. Usava diversos tipos de munição, desde ração de pombo a milho, mas sem dúvida que a minha preferida era a uva, de preferência calibre 3, cápsula roxa, de fabrico ribatejano. O ataque continuava até ser interrompido pela minha avó, que me chamava ?judeu? e ?maltês?. Descia então a Travessa Carvalho Araújo, com a ?carinha na água? para ver no terreno os estragos provocados pelo ataque. Passava entre as vítimas, discreto e silencioso por fora, em plena euforia por dentro, que regressavam, em debandada às bases, leia-se Sede da Bola e Taberna do Tí Luís. Ora, numa dessas tardes, igual a tantas outras de vitórias estrondosas, estava um trabalhador (nesse tempo não havia funcionários e muito menos colaboradores) dos TLP, pendurado num escadote à beira da rua, a arranjar os fios telefónicos, quando, de repente, passou um carro e derrubou o escadote. O homem caiu estatelado no meio da rua. Fiquei estupefacto a olhar as tropas inimigas a socorrerem o homem, que entretanto se levantara, ainda contundido e a sangrar da testa. O feroz ?sniper? dera agora lugar ao miúdo assustado, mas depressa percebi que nada de verdadeiramente grave acontecera. Chamada a ambulância, o homem mostrou-se mesmo relutante em ir para o hospital, mas acabou por ceder. Com tanta animação, o estômago do pequeno guerreiro começou a dar horas e eis-me a fazer uma incursão ao frigorífico da minha avó, preparando uma sandes com os chouriços que tinham sobrado do cozido. O Tulicreme (para os meus leitores mais novos esclareço que o tulicreme é o avô do bolicao, mas sem pão) bem podia abanar-se sempre que abria o frigorífico, gritar-me ?Barra-me no pão! Barra-me no pão!?, que eu permanecia fiel à farinheira e ao chouriço de sangue. Com a enorme sandes na mão voltei à rua e ainda não tinha andado cinquenta metros, ouvi um diálogo entre duas senhoras que nunca mais esqueci. Dizia uma, visivelmente perturbada, para a outra: ?Coitado! Quando o meteram na ambulância, já ia morto, com certeza!?. Lembro-me de ficar espantado, tanto ou mais que com o próprio acidente. Eu assistira a tudo e tinha a certeza que o homem não só não ia morto, como estava consciente. Este episódio esclareceu-me um pouco sobre o espírito humano. E gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer publicamente ao acidentado, que hoje provavelmente goza duma boa reforma dos TLP, orgulhoso do neto, que está a acabar o curso de engenharia no Técnico e está a pensar casar com a sua namorada de sempre, a Cátia Andreia, neta do vizinho do lado, reforçando que aquele seu acidente não foi em vão. E claro, agradecer à senhora que involuntariamente contribuiu para o meu prudente cepticismo em relação ao mundo.
Nado e criado na Póvoa, o meu quotidiano infantil era circunscrito ao Largo da Praça, com esporádicas incursões aos bairros ?inimigos?: As Escadinhas, o Alto, o Cinema ou a Rua A. Nas tardes em que não havia nenhuma jogatana ou incursão bélica em território inimigo, ficava-me pela Praça. Uma das minhas actividades preferidas era a de atirar diversos objectos aos homens que, no intervalo do dominó, se punham a apanhar Sol em frente à sede da bola. Colocado estrategicamente por detrás do muro do quintal do meu avô, aproveitava o ângulo favorável para bombardear o inimigo sem que ele soubesse de onde vinha o ataque. Usava diversos tipos de munição, desde ração de pombo a milho, mas sem dúvida que a minha preferida era a uva, de preferência calibre 3, cápsula roxa, de fabrico ribatejano. O ataque continuava até ser interrompido pela minha avó, que me chamava ?judeu? e ?maltês?. Descia então a Travessa Carvalho Araújo, com a ?carinha na água? para ver no terreno os estragos provocados pelo ataque. Passava entre as vítimas, discreto e silencioso por fora, em plena euforia por dentro, que regressavam, em debandada às bases, leia-se Sede da Bola e Taberna do Tí Luís. Ora, numa dessas tardes, igual a tantas outras de vitórias estrondosas, estava um trabalhador (nesse tempo não havia funcionários e muito menos colaboradores) dos TLP, pendurado num escadote à beira da rua, a arranjar os fios telefónicos, quando, de repente, passou um carro e derrubou o escadote. O homem caiu estatelado no meio da rua. Fiquei estupefacto a olhar as tropas inimigas a socorrerem o homem, que entretanto se levantara, ainda contundido e a sangrar da testa. O feroz ?sniper? dera agora lugar ao miúdo assustado, mas depressa percebi que nada de verdadeiramente grave acontecera. Chamada a ambulância, o homem mostrou-se mesmo relutante em ir para o hospital, mas acabou por ceder. Com tanta animação, o estômago do pequeno guerreiro começou a dar horas e eis-me a fazer uma incursão ao frigorífico da minha avó, preparando uma sandes com os chouriços que tinham sobrado do cozido. O Tulicreme (para os meus leitores mais novos esclareço que o tulicreme é o avô do bolicao, mas sem pão) bem podia abanar-se sempre que abria o frigorífico, gritar-me ?Barra-me no pão! Barra-me no pão!?, que eu permanecia fiel à farinheira e ao chouriço de sangue. Com a enorme sandes na mão voltei à rua e ainda não tinha andado cinquenta metros, ouvi um diálogo entre duas senhoras que nunca mais esqueci. Dizia uma, visivelmente perturbada, para a outra: ?Coitado! Quando o meteram na ambulância, já ia morto, com certeza!?. Lembro-me de ficar espantado, tanto ou mais que com o próprio acidente. Eu assistira a tudo e tinha a certeza que o homem não só não ia morto, como estava consciente. Este episódio esclareceu-me um pouco sobre o espírito humano. E gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer publicamente ao acidentado, que hoje provavelmente goza duma boa reforma dos TLP, orgulhoso do neto, que está a acabar o curso de engenharia no Técnico e está a pensar casar com a sua namorada de sempre, a Cátia Andreia, neta do vizinho do lado, reforçando que aquele seu acidente não foi em vão. E claro, agradecer à senhora que involuntariamente contribuiu para o meu prudente cepticismo em relação ao mundo.
A MAIORIA SILENCIOSA
A palavra maioria tem funcionado como um salvo-conduto no mais recente período da democracia portuguesa. Os maiores dislates são legitimados pela pressuposta existência de uma maioria apoiante. A expressão ?a maioria dos portugueses? faz-me lembrar aquela partida que consiste em oferecer um grande embrulho com uma minúscula prenda lá dentro.
Vejamos a maioria do Povo Português (subentende-se com capacidade eleitoral activa): 8.902.713. Desses quase 9 milhões só votaram 5473655 e desses quase 5 milhões e meio de votantes só 2.200.765 votaram no partido vencedor. O grande embrulho dá uma prenda muito pequenina. Já nas eleições anteriores se tinha repetido o mesmo cenário (8.864.604 inscritos, 5.415.102 votantes e 2.385.922 votantes no partido vencedor).
Justifica-se este nível de abstencionismo com uma falácia: o mal não é só nosso, é da Europa, com uma democracia velha de 50 anos. Acontece que nós não temos democracia nem há 50, nem há 40 nem sequer há 30 anos e temos uma das maiores taxas de abstencionismo de toda a Europa. Acresce que enquanto no Norte da Europa, a participação cívica é um facto quotidiano e complementar da actividade dos partidos políticos, em Portugal, em consequência de mais de 40 anos de um regime retrógrado, não se fomentou (antes se esterilizou) a manifestação civil.
O fenómeno parece-me ser preocupante, mas não é um problema dos políticos ou dos partidos. É um problema de todos. Há que fazer uma errata: quando se ouve alguém dizer ?não ligo à política?, deve ouvir-se ?não gosto do funcionamento dos partidos?, porque não é plausível que exista algum português que não se identifique com pelo menos um partido do espectro ideológico, que começa no Dr. Garcia Pereira e no seu M.R.P.P. e acaba numa extrema-direita camaleónica. A não ser, claro, os ?anarquistas?, normalmente agraciados pelo Estado com chorudas subvenções.
Porque há um ponto em que a legitimidade se torna meramente formal, quando as ditas maiorias são maiorias de minorias. Hoje o maior partido português é o P.P.A., o Partido Popular da Abstenção. Ora, a partir do momento em que há mais abstencionistas que votantes, as regras da democracia estão pervertidas, a maioria não expressa a sua vontade. É a chamada maioria silenciosa. Meio caminho andado para um novo Estado. Ou um Estado Novo.
Léxico
A língua portuguesa, como coisa “viva” que aparenta ser, tem mutações constantes (eis um paradoxo inadvertido...), apresenta manifestações que variam ao sabor (ou melhor ao som) da sua promíscua dança com outras línguas. Talvez por isso, sempre que dá um passo menos previsto ou desejado, assumo uma posição passiva, aguardando que esse passo se enraíze ou fique perdido na história. Não deixo no entanto de apontar essas variações. É um estrato desses apontamentos que aqui vos deixo.
Janela de Oportunidade – Esta novel expressão lembra-me duas coisas: primeiro a história de Romeu e Julieta. Se não fosse a janela Romeu não teria oportunidade de “privar” com Julieta. Depois as minhas primeiras viagens de comboio, em que as janelas eram uma oportunidade para mandar fora o inútil: cigarros, jornais, restos de comida, eventualmente o passageiro sentado à nossa frente. Hoje a expressão designa alguém que olha para os acontecimentos como um miúdo olha para um carrossel. Na primeira oportunidade entra para o bicho mais espampanante ou ruidoso. A janela de oportunidade substitui a ausência de critério. O que interessa é entrarmos e não onde entramos. Chama-se a isto pragmatismo e em Portugal temos muitos adeptos deste desporto radical. Como por exemplo, o Zé Manel. Esse que estão a pensar. O da família dos pércidas.
Diagnóstico – outra palavra já velha de séculos, mas sempre com uso renovado. Faz parte do léxico de qualquer candidato a político, a tecnocrata, a comentador televisivo. Primeiro faz-se o diagnóstico. Seja qual for o assunto ou a percepção do mesmo que se tenha, faz-se um diagnóstico. No tempo em que as pessoas “públicas” eram menos pomposas e mais substantivas, estes “diagnósticos” chamavam-se bitaites. O resultado, ou melhor, o diagnóstico é sempre o mesmo: o sapo fica surdo quando lhe cortam as patas.
Cirúrgico – a palavra não é nova, mas tem sido utilizada profusamente. Designa precisão. Assim, no futebol, temos os cortes cirúrgicos. Já na guerra temos os bombardeamentos cirúrgicos. Duplamente cirúrgicos. Se não acertam com precisão no alvo, obrigam a uma intervenção cirúrgica. Na maior parte dos casos autópsias.
Competitividade – Ciclicamente, uma das ditas ciências sociais toma a dianteira e pretende assumir-se como ciência agregadora das outras todas. Já aconteceu com a sociologia, com a psicologia e acontece actualmente com a economia. É um sintoma de crescimento. Afinal a economia é uma jovem ciência com pouco mais de 200 anos. E assim, como qualquer jovem panfletário, grita palavras de ordem. Como por exemplo competitividade. Competir significa pretender alguma coisa simultaneamente com outrem. É esse o grande objectivo da nossa existência. Sermos melhores que os outros, independentemente do objecto. Temos é que ser melhores que o vizinho, sob a ameaça do vizinho ser melhor que nós. Esta visão das coisas consome-se na sua própria estreiteza. Os portugueses são muito competitivos. Na sinistralidade rodoviária, no consumo de álcool, na fuga e na fraude ao Fisco. E isso é bom, porque o que seria da nossa sociedade sem um forte sector empresarial de bate-chapas? E da nossa indústria de engarrafamento? Já reparou o leitor no que seria a nossa vida se não pudéssemos invejar e satanizar o vizinho que mais esperto que nós, não paga impostos?
Pro-activo – Esta palavra espanta-me. O que é um pro-activo? Aquele que actua antes da acção? Suponho que pro-activo é um tipo que na falta de acção, inventa ele mesmo a acção. Do estilo de morar na Póvoa e trabalhar no Forte da Casa, mas dar a volta pela 2ª circular só para contribuir para a acção, para o bulício do trânsito, ou seja, para a ausência de acção. Com a celeridade erosiva que os pro-activos nos são apresentados, não deve tardar muito a surgir a nova geração: o pré-pro-activo.
Prometo voltar oportunamente a este tema. Desejo-vos um bom dia. Pro-activo, claro.
A língua portuguesa, como coisa “viva” que aparenta ser, tem mutações constantes (eis um paradoxo inadvertido...), apresenta manifestações que variam ao sabor (ou melhor ao som) da sua promíscua dança com outras línguas. Talvez por isso, sempre que dá um passo menos previsto ou desejado, assumo uma posição passiva, aguardando que esse passo se enraíze ou fique perdido na história. Não deixo no entanto de apontar essas variações. É um estrato desses apontamentos que aqui vos deixo.
Janela de Oportunidade – Esta novel expressão lembra-me duas coisas: primeiro a história de Romeu e Julieta. Se não fosse a janela Romeu não teria oportunidade de “privar” com Julieta. Depois as minhas primeiras viagens de comboio, em que as janelas eram uma oportunidade para mandar fora o inútil: cigarros, jornais, restos de comida, eventualmente o passageiro sentado à nossa frente. Hoje a expressão designa alguém que olha para os acontecimentos como um miúdo olha para um carrossel. Na primeira oportunidade entra para o bicho mais espampanante ou ruidoso. A janela de oportunidade substitui a ausência de critério. O que interessa é entrarmos e não onde entramos. Chama-se a isto pragmatismo e em Portugal temos muitos adeptos deste desporto radical. Como por exemplo, o Zé Manel. Esse que estão a pensar. O da família dos pércidas.
Diagnóstico – outra palavra já velha de séculos, mas sempre com uso renovado. Faz parte do léxico de qualquer candidato a político, a tecnocrata, a comentador televisivo. Primeiro faz-se o diagnóstico. Seja qual for o assunto ou a percepção do mesmo que se tenha, faz-se um diagnóstico. No tempo em que as pessoas “públicas” eram menos pomposas e mais substantivas, estes “diagnósticos” chamavam-se bitaites. O resultado, ou melhor, o diagnóstico é sempre o mesmo: o sapo fica surdo quando lhe cortam as patas.
Cirúrgico – a palavra não é nova, mas tem sido utilizada profusamente. Designa precisão. Assim, no futebol, temos os cortes cirúrgicos. Já na guerra temos os bombardeamentos cirúrgicos. Duplamente cirúrgicos. Se não acertam com precisão no alvo, obrigam a uma intervenção cirúrgica. Na maior parte dos casos autópsias.
Competitividade – Ciclicamente, uma das ditas ciências sociais toma a dianteira e pretende assumir-se como ciência agregadora das outras todas. Já aconteceu com a sociologia, com a psicologia e acontece actualmente com a economia. É um sintoma de crescimento. Afinal a economia é uma jovem ciência com pouco mais de 200 anos. E assim, como qualquer jovem panfletário, grita palavras de ordem. Como por exemplo competitividade. Competir significa pretender alguma coisa simultaneamente com outrem. É esse o grande objectivo da nossa existência. Sermos melhores que os outros, independentemente do objecto. Temos é que ser melhores que o vizinho, sob a ameaça do vizinho ser melhor que nós. Esta visão das coisas consome-se na sua própria estreiteza. Os portugueses são muito competitivos. Na sinistralidade rodoviária, no consumo de álcool, na fuga e na fraude ao Fisco. E isso é bom, porque o que seria da nossa sociedade sem um forte sector empresarial de bate-chapas? E da nossa indústria de engarrafamento? Já reparou o leitor no que seria a nossa vida se não pudéssemos invejar e satanizar o vizinho que mais esperto que nós, não paga impostos?
Pro-activo – Esta palavra espanta-me. O que é um pro-activo? Aquele que actua antes da acção? Suponho que pro-activo é um tipo que na falta de acção, inventa ele mesmo a acção. Do estilo de morar na Póvoa e trabalhar no Forte da Casa, mas dar a volta pela 2ª circular só para contribuir para a acção, para o bulício do trânsito, ou seja, para a ausência de acção. Com a celeridade erosiva que os pro-activos nos são apresentados, não deve tardar muito a surgir a nova geração: o pré-pro-activo.
Prometo voltar oportunamente a este tema. Desejo-vos um bom dia. Pro-activo, claro.
LA VALISE DE PANDORA
Caros leitores,
Os mais atentos já repararam que mantenho diversas actividades. Não serei propriamente biscateiro (o que é uma falha na minha portugalidade), mas tenho a minha dose de loucura e poesia, pois claro.
Talvez inspirado pela pop-culture que povoou a minha infância e juventude (o meu primeiro símbolo sexual foi a Pipi das Meias Altas) tenho dedicado os meus poucos tempos livres à descoberta de coisas raras, espécie de Indiana Jones de trazer por casa.
Pois bem, levado pelo senso prático e na impossibilidade de explorar longínquas ilhas da Micronésia, resolvi aventurar-me nos esgotos de Lisboa. Mas perguntará nesta altura o leitor: que estranha pista terei seguido? Posso garantir-vos que não segui as indicações de nenhum papiro ou manuscrito antigo; limitei-me a estar atento à comunicação social e aos boatos que vão circulando.
Embrenhei-me então pelos esgotos da Capital e seguindo apenas o meu instinto, finalmente descobri aquilo que muitos diziam existir mas que ninguém ainda tinha visto: A Caixa!
Cravada no lodo, com a tampa entreaberta e exalando um cheiro ambíguo, doce e cálido, mas ao mesmo tempo repelente, a origem de todos os males estava ao alcance da minha mão. Pareceu-me ouvir uma música ao longe, procurei apurar os sentidos...seria o ?addicted to love?? Eu estava perto da Câmara de Lisboa, se calhar a música vinha do gabinete presidencial...ou então era apenas confusão mental da minha parte, devido à excitação.
Nervoso, debrucei-me sobre a caixa e empurrei a tampa. O seu interior confirmava todos os meus temores. Dentro da caixa estavam outras pequenas caixas, de dentro das quais saíam periodicamente todos os males que conspurcam a nossa sociedade. Lá estava a caixa dos políticos, com uma caixinha ainda mais pequena lá dentro, com o rótulo autarcas; ao lado a caixa dos funcionários públicos, dos futebolistas, dos advogados, dos que fogem ao fisco, dos aceleras, dos polícias. A náusea impediu-me de continuar a ler os rótulos. Estava confirmada a suspeita levantada, nos jornais e na televisão, nas ruas e nos cafés, por todos esses homens de bom senso, pelos verdadeiros patriotas: todos os males que corrompem o nosso país, os nossos novecentos anos de glória, são provocados por entes que, embora aparentando ser portugueses como nós, são afinal criaturas geradas na maldita caixa.
Está pois justificado o discurso de todo o português honesto e íntegro, que quando se refere a essas criaturas diz sempre: os políticos, os futebolistas, etc.. Aquilo que aparentemente era ilógico, pois essas ?pessoas? seriam, presumia-se, cidadãos como nós, os puros, era afinal uma manifestação de um instinto visceral, de uma certeza íntima de que o mal provinha de algo externo, de algo que sendo antropomórfico, tinha uma substância radicalmente diferente da nossa portugalidade.
Só ainda não descobri quem ali colocou a caixa. Mas todos os indícios apontam para os Castelhanos.
Os mais atentos já repararam que mantenho diversas actividades. Não serei propriamente biscateiro (o que é uma falha na minha portugalidade), mas tenho a minha dose de loucura e poesia, pois claro.
Talvez inspirado pela pop-culture que povoou a minha infância e juventude (o meu primeiro símbolo sexual foi a Pipi das Meias Altas) tenho dedicado os meus poucos tempos livres à descoberta de coisas raras, espécie de Indiana Jones de trazer por casa.
Pois bem, levado pelo senso prático e na impossibilidade de explorar longínquas ilhas da Micronésia, resolvi aventurar-me nos esgotos de Lisboa. Mas perguntará nesta altura o leitor: que estranha pista terei seguido? Posso garantir-vos que não segui as indicações de nenhum papiro ou manuscrito antigo; limitei-me a estar atento à comunicação social e aos boatos que vão circulando.
Embrenhei-me então pelos esgotos da Capital e seguindo apenas o meu instinto, finalmente descobri aquilo que muitos diziam existir mas que ninguém ainda tinha visto: A Caixa!
Cravada no lodo, com a tampa entreaberta e exalando um cheiro ambíguo, doce e cálido, mas ao mesmo tempo repelente, a origem de todos os males estava ao alcance da minha mão. Pareceu-me ouvir uma música ao longe, procurei apurar os sentidos...seria o ?addicted to love?? Eu estava perto da Câmara de Lisboa, se calhar a música vinha do gabinete presidencial...ou então era apenas confusão mental da minha parte, devido à excitação.
Nervoso, debrucei-me sobre a caixa e empurrei a tampa. O seu interior confirmava todos os meus temores. Dentro da caixa estavam outras pequenas caixas, de dentro das quais saíam periodicamente todos os males que conspurcam a nossa sociedade. Lá estava a caixa dos políticos, com uma caixinha ainda mais pequena lá dentro, com o rótulo autarcas; ao lado a caixa dos funcionários públicos, dos futebolistas, dos advogados, dos que fogem ao fisco, dos aceleras, dos polícias. A náusea impediu-me de continuar a ler os rótulos. Estava confirmada a suspeita levantada, nos jornais e na televisão, nas ruas e nos cafés, por todos esses homens de bom senso, pelos verdadeiros patriotas: todos os males que corrompem o nosso país, os nossos novecentos anos de glória, são provocados por entes que, embora aparentando ser portugueses como nós, são afinal criaturas geradas na maldita caixa.
Está pois justificado o discurso de todo o português honesto e íntegro, que quando se refere a essas criaturas diz sempre: os políticos, os futebolistas, etc.. Aquilo que aparentemente era ilógico, pois essas ?pessoas? seriam, presumia-se, cidadãos como nós, os puros, era afinal uma manifestação de um instinto visceral, de uma certeza íntima de que o mal provinha de algo externo, de algo que sendo antropomórfico, tinha uma substância radicalmente diferente da nossa portugalidade.
Só ainda não descobri quem ali colocou a caixa. Mas todos os indícios apontam para os Castelhanos.
FREAK SHOW
Uma das características mais marcantes da sociedade contemporânea é o estabelecimento de princípios que ninguém contesta. Uma dessas ?ideias feitas? é a que afirma que o exercício de direitos por parte de particulares ou privados não tem limites.
Ora, o próprio conceito de direito implica a existência de um dever conexo. Vem este discurso a propósito do triste espectáculo que as televisões nos têm oferecido, sob a capa de informação. Outra das ideias feitas é aquela que com esperteza saloia diz ?quem não gosta, muda de canal?.
Convém desde já explicitar que não defendo qualquer tipo de censura, isto é, de imposição aos meios de comunicação social de qualquer tipo de programação de acordo com a moral social dominante. Apenas acho que o direito à livre expressão e à informação não é um exercício de livre arbítrio.
A liberdade de programação e de informação acaba onde começa a violação dos direitos, liberdades e garantias e sobretudo quando atinge a dignidade da pessoa humana.
Não quero dizer com isto que defendo uma televisão asséptica ou inócua. Parece-me um exercício legítimo da liberdade de programação e de expressão a exibição de temas polémicos ou até mesmo de programas do tipo ?Big Brother? e afins. Nesses programas são as próprias pessoas que prescindem da sua reserva da intimidade. Estão legitimamente a manifestar a sua vontade. É no entanto substancialmente diferente o fenómeno que em concreto me leva a escrever este artigo.
Tenho reparado que os telejornais dos dois operadores privados tem competido em torno de um tema sórdido: a deformidade e as doenças particularmente incapacitantes de crianças e jovens. E assim, se num dia a SIC apresenta uma criança que não vê, não fala, não ouve, no dia seguinte a TVI mostra despudoradamente um jovem que não só não vê, fala ou ouve, como não se mexe. Vasculham à procura da história mais pungente, da situação de maior fragilidade, daquela que em termos de écran mais resulte.
Se um adulto resolver mostrar na televisão a sua desgraçada herança genética ou divina, eu posso não ver, mas acho que está no seu pleno direito. Mas não vejo como é que se enquadra no direito à informação a exposição da mesma situação quando se trata de um menor, criança ou jovem. É unanimemente aceite que um miúdo de 5 ou 6 anos não tem capacidade de exercício, nem uma vontade formada e plenamente consciente. E a autorização dos pais é uma fina capa de pseudo-legalidade injustificável. Estamos perante uma clara violação da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade da infância e da juventude E nem serve de argumento a pretensão que a notícia é uma forma de ajuda, porque os fins não justificam os meios e porque ao ritmo frenético de exibição de ?casos?, rapidamente o assunto será banal e as televisões vão mudar a sua mira.
Este dever de proteger os nossos concidadãos que não o podem fazer por si é extensível a toda a sociedade. Passa pela exigência de um melhor apoio do Estado a estas situações, mas igualmente por uma luta interior, dentro de cada um de nós; uma luta contra o nosso egoísmo e pela ajuda voluntária nas instituições que se dedicam a este fim.
Ora, o próprio conceito de direito implica a existência de um dever conexo. Vem este discurso a propósito do triste espectáculo que as televisões nos têm oferecido, sob a capa de informação. Outra das ideias feitas é aquela que com esperteza saloia diz ?quem não gosta, muda de canal?.
Convém desde já explicitar que não defendo qualquer tipo de censura, isto é, de imposição aos meios de comunicação social de qualquer tipo de programação de acordo com a moral social dominante. Apenas acho que o direito à livre expressão e à informação não é um exercício de livre arbítrio.
A liberdade de programação e de informação acaba onde começa a violação dos direitos, liberdades e garantias e sobretudo quando atinge a dignidade da pessoa humana.
Não quero dizer com isto que defendo uma televisão asséptica ou inócua. Parece-me um exercício legítimo da liberdade de programação e de expressão a exibição de temas polémicos ou até mesmo de programas do tipo ?Big Brother? e afins. Nesses programas são as próprias pessoas que prescindem da sua reserva da intimidade. Estão legitimamente a manifestar a sua vontade. É no entanto substancialmente diferente o fenómeno que em concreto me leva a escrever este artigo.
Tenho reparado que os telejornais dos dois operadores privados tem competido em torno de um tema sórdido: a deformidade e as doenças particularmente incapacitantes de crianças e jovens. E assim, se num dia a SIC apresenta uma criança que não vê, não fala, não ouve, no dia seguinte a TVI mostra despudoradamente um jovem que não só não vê, fala ou ouve, como não se mexe. Vasculham à procura da história mais pungente, da situação de maior fragilidade, daquela que em termos de écran mais resulte.
Se um adulto resolver mostrar na televisão a sua desgraçada herança genética ou divina, eu posso não ver, mas acho que está no seu pleno direito. Mas não vejo como é que se enquadra no direito à informação a exposição da mesma situação quando se trata de um menor, criança ou jovem. É unanimemente aceite que um miúdo de 5 ou 6 anos não tem capacidade de exercício, nem uma vontade formada e plenamente consciente. E a autorização dos pais é uma fina capa de pseudo-legalidade injustificável. Estamos perante uma clara violação da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade da infância e da juventude E nem serve de argumento a pretensão que a notícia é uma forma de ajuda, porque os fins não justificam os meios e porque ao ritmo frenético de exibição de ?casos?, rapidamente o assunto será banal e as televisões vão mudar a sua mira.
Este dever de proteger os nossos concidadãos que não o podem fazer por si é extensível a toda a sociedade. Passa pela exigência de um melhor apoio do Estado a estas situações, mas igualmente por uma luta interior, dentro de cada um de nós; uma luta contra o nosso egoísmo e pela ajuda voluntária nas instituições que se dedicam a este fim.
EFFICIENTIA IMPERII (EM LATIM MACARRÓNICO)
As recentes polémicas sobre as Pescas e a Política Agrícola Comum, levantam diversas questões pertinentes, para além do óbvio aproveitamento da questão, por parte daqueles que gostam de levantar velhos e atávicos fantasmas contra um possível iberismo.
A questão fundamental prende-se com o conceito de sociedade que está subjacente a todas estas medidas. Esse conceito funda-se no princípio da eficiência que proclama que cada um deve fazer aquilo que faz melhor e defende por isso a divisão internacional do trabalho.
Trocando por miúdos: esta teoria defende que seríamos todos mais eficientes, logo mais felizes se não perdêssemos tempo a fazer coisas para as quais não temos jeito nenhum. Assim, levando este princípio ao seu ponto óptimo, o Brasil só devia produzir telenovelas e jogadores de futebol, os japoneses dedicar-se-iam à produção de electrodomésticos e afins, os caboverdianos à estiva, a Inglaterra seria uma gigantesca casa de apostas e a França uma queijaria enorme. Presumo que Portugal se tornaria num gigantesco aeroporto onde, no intervalo das apostas, velhos reformados ingleses desembarcariam, rumo à praia.
Esta teoria é tão estúpida como o marxismo. As teorias sociais, por muito díspares que sejam nas conclusões, têm que partir de um princípio: a natureza humana. E da premissa que todo e qualquer homem tem uma multiplicidade de interesses, que é da sua própria dificuldade em concretizá-los, ou seja, da sua ineficiência, que surgiram, surgem e surgirão os avanços da Humanidade. Aplicada esta teoria, esgotar-se-ia qualquer possibilidade de Camões ser escritor. Seria um bagageiro no aeroporto da Portela e estou a imaginá-lo a carregar as malas de um balofo e rubro reformado inglês, e arfando diria ?Soul my gentile one, that you broke yourself so early of this life discontents...? ao que o inglês, na sua infinita bondade paternalista responderia ?Poor man! So young and already widower! They die early here in the South! Take two pounds to make your wife?s grave.?. E Eusébio seria um eficiente apanhador de castanha de cajú.
Quem constrói estas teorias, apartadas de qualquer realidade, não consegue entender que eu, quando canto ou quando toscamente faço uma fisga, não pretendo que ela seja eficiente e que provavelmente sem fazer a fisga inútil não terei vontade de desempenhar uma função socialmente útil. Que só a noção de que sou um escritor medíocre me dá alento para continuar a escrever, procurando sempre melhorar.
Além de que a vida nesta sociedade eficiente seria uma chatice tremenda. Já imaginou o leitor vestir todos os dias roupa feita com a melhor lã neozelandesa, a almoçar invariavelmente carne argentina com arroz chinês, regada com coca-cola, 365 dias por ano?
Mas a justiça divina ou a justiça humana reservaram um paradoxo cruel para os cultores desta teoria da eficiência: fundada na necessidade de liberdade do Homem, a sua concretização levaria exactamente ao fim dessa liberdade. Neste mundo hiper-racional, todos escolheriam a mesma coisa para determinada função, ou simplesmente não escolheriam, limitar-se-iam a aceitar aquilo que o critério objectivo da eficiência determinasse. Perante este cenário, todas as formas de totalitarismo que já tivemos, ao longo da história, parecem-me singelas e garridas ditaduras caribenhas.
A questão fundamental prende-se com o conceito de sociedade que está subjacente a todas estas medidas. Esse conceito funda-se no princípio da eficiência que proclama que cada um deve fazer aquilo que faz melhor e defende por isso a divisão internacional do trabalho.
Trocando por miúdos: esta teoria defende que seríamos todos mais eficientes, logo mais felizes se não perdêssemos tempo a fazer coisas para as quais não temos jeito nenhum. Assim, levando este princípio ao seu ponto óptimo, o Brasil só devia produzir telenovelas e jogadores de futebol, os japoneses dedicar-se-iam à produção de electrodomésticos e afins, os caboverdianos à estiva, a Inglaterra seria uma gigantesca casa de apostas e a França uma queijaria enorme. Presumo que Portugal se tornaria num gigantesco aeroporto onde, no intervalo das apostas, velhos reformados ingleses desembarcariam, rumo à praia.
Esta teoria é tão estúpida como o marxismo. As teorias sociais, por muito díspares que sejam nas conclusões, têm que partir de um princípio: a natureza humana. E da premissa que todo e qualquer homem tem uma multiplicidade de interesses, que é da sua própria dificuldade em concretizá-los, ou seja, da sua ineficiência, que surgiram, surgem e surgirão os avanços da Humanidade. Aplicada esta teoria, esgotar-se-ia qualquer possibilidade de Camões ser escritor. Seria um bagageiro no aeroporto da Portela e estou a imaginá-lo a carregar as malas de um balofo e rubro reformado inglês, e arfando diria ?Soul my gentile one, that you broke yourself so early of this life discontents...? ao que o inglês, na sua infinita bondade paternalista responderia ?Poor man! So young and already widower! They die early here in the South! Take two pounds to make your wife?s grave.?. E Eusébio seria um eficiente apanhador de castanha de cajú.
Quem constrói estas teorias, apartadas de qualquer realidade, não consegue entender que eu, quando canto ou quando toscamente faço uma fisga, não pretendo que ela seja eficiente e que provavelmente sem fazer a fisga inútil não terei vontade de desempenhar uma função socialmente útil. Que só a noção de que sou um escritor medíocre me dá alento para continuar a escrever, procurando sempre melhorar.
Além de que a vida nesta sociedade eficiente seria uma chatice tremenda. Já imaginou o leitor vestir todos os dias roupa feita com a melhor lã neozelandesa, a almoçar invariavelmente carne argentina com arroz chinês, regada com coca-cola, 365 dias por ano?
Mas a justiça divina ou a justiça humana reservaram um paradoxo cruel para os cultores desta teoria da eficiência: fundada na necessidade de liberdade do Homem, a sua concretização levaria exactamente ao fim dessa liberdade. Neste mundo hiper-racional, todos escolheriam a mesma coisa para determinada função, ou simplesmente não escolheriam, limitar-se-iam a aceitar aquilo que o critério objectivo da eficiência determinasse. Perante este cenário, todas as formas de totalitarismo que já tivemos, ao longo da história, parecem-me singelas e garridas ditaduras caribenhas.
DESMILITARIZAÇÃO, JÁ!
Com a queda do anterior regime, foi necessário não só mudar as instituições políticas, como reformar toda a administração pública, que em face da natureza do regime, estava instrumentalizada. Assim, tornou-se evidente que era não só necessário mudar os decisores políticos de topo, como também assegurar que os executores dessas políticas estavam irmanados do mesmo espírito. Ora, os partidos políticos surgiam como as únicas entidades, num regime democrático, com legitimidade para prosseguir esse caminho e assim, a sua intervenção na administração pública era vista como uma intervenção extensiva, na medida em que a função administrativa era uma extensão, digamos grosseiramente, uma aplicação das medidas políticas. Nesse capítulo, o Partido Comunista Português começou por levar vantagem pelo simples facto de ser mais antigo e mais organizado que os outros. Mas convenhamos que a necessidade de educar a administração e de encarrilá-la nas directivas dos partidos era um desejo de todos, mesmo que a solução fosse temporária e tivesse como objectivo evitar o vazio após o saneamento político. Rapidamente os outros partidos (PS, PPD e CDS) sentiram a necessidade de equilibrar a balança e a bem da democracia foram colocando os seus quadros na administração. Estava assim iniciada a guerra fria que tem marcado os últimos 29 anos da administração pública portuguesa. Não se julgue que ela se limita aos partidos que constituem o dito ?centrão? (PS e PPD). Na realidade, todos souberam arranjar nichos para os seus. Há medida que o Estado Providência ia crescendo, menor ia sendo o efectivo controlo das cúpulas partidárias sobre os movimentos das tropas e o objectivo primário, que supostamente seria o de substituir os quadros saneados por quadros ideológica e politicamente esclarecidos. A sucessiva criação de institutos, direcções gerais, empresas públicas e afins perverteu por completo o objectivo inicial. E a necessidade fez com que os critérios fossem menos rigorosos e os centros de decisão esbateram-se. A entrada de Portugal na CEE foi um momento enternecedor de demonstração pavloviana de reflexos condicionados. E nenhum Governo conseguiu dar um passo efectivo para contrariar este fluxo. Em 29 de democracia foram poucos os anos em que a AP conseguiu efectivamente administrar, porque cada vez que mudava um Governo, mudavam milhares de titulares de cargos de topo da administração. Veja-se este exemplo, só aplicável aos últimos 16 anos de governação: de quatro em quatro anos mudava o Governo, traduzindo-se em termos de administração na seguinte fórmula: o primeiro ano é para colocar os quadros, o segundo ano para impor a sua própria estratégia, no terceiro ano vigora essa estratégia e o quarto ano é de expectativa. Assim, e numa hipótese optimista, em cada quatro anos a administração só funcionou um, ou seja, em 29 anos só funcionou 7. Como resultado temos uma administração bem mais instrumentalizada e corporizada que a do Estado Novo. O remédio, de tão forte e de aplicação tão prolongada, deixou o paciente moribundo. É tempo de desmilitarizar a AP. Já!
Subscrever:
Comentários (Atom)
Acerca de mim
- Nuno Augusto
- póvoa de santa iria, Lisboa, Portugal

Arquivo do blogue
-
▼
2003
(28)
-
►
agosto
(7)
- POR QUE É QUE EU NÃO VOTO EM ANTÓNIO GUTERRESEnqua...
- Estou a fazer uma página em http://detrasdoreposte...
- OS COMEDORES DE BERINGELASVou hoje falar-vos de um...
- MEMÓRIA DE ELEFANTECaros leitores,Vem hoje à liça ...
- OS BISBILHOTEIROSAo longo da nossa existência enqu...
- FUGA PARA A FRENTERecentemente, ouvi um número esp...
- ROMEU E JULIETA É O MELHOR ROMANCE PORQUE OS DOIS ...
-
►
julho
(18)
- O SÍNDROMA DA NOVA ZELÂNDIA
- Fungágá da BicharadaA minha crónica de hoje é dedi...
- FESTIM DE CANIBAIS Meus caros leitores Estou irr...
- UM GRANDE FURO Meus caros leitores, tenho uma con...
- O MECENASMeus caros leitores, venho hoje revelar-v...
- O BOM SAMARITANOA vida moderna tem destas coisas: ...
- O BISNAUTenho a certeza que mesmo os meus leitores...
- OS ÓRFÃOS DO MUROCertamente que a maioria dos meus...
- O PARADOXOImagine o leitor uma comunidade constitu...
- O BOATOAo longo das crónicas que quinzenalmente sã...
- A MAIORIA SILENCIOSAA palavra maioria tem funciona...
- Léxico A língua portuguesa, como coisa “viva” que...
- LA VALISE DE PANDORACaros leitores,Os mais atentos...
- FREAK SHOWUma das características mais marcantes d...
- EFFICIENTIA IMPERII (EM LATIM MACARRÓNICO)As recen...
- DESMILITARIZAÇÃO, JÁ! Com a queda do anterior re...
-
►
agosto
(7)